Camisa Molhada (Toquinho e Carlinhos Vergueiro)
Fique de olho no apito,
Que o jogo é na raça
E uma luta se ganha no grito.
E se o juiz apelar,
Não deixe barato,
Ele é igual a você e não pode roubar.
O domingo é de guerra, o campo é de terra,
O boteco é do lado.
Na hora marcada, a meia rasgada,
O joelho ralado.
É debaixo de chuva, é debaixo de sol,
É no meio da lama.
A vontade é de graça, a vitória é a taça
Do fim de semana.
É o chute no canto, é o Espírito Santo,
É a chance perdida.
É a falta de sorte, é a vida, é a morte,
É a contrapartida.
É a fome, é a sede, é a bola na rede,
A torcida a favor.
A camisa molhada, no corpo abraçada,
É seu único amor.
Geraldinos e Arquibaldos (Gonzaguinha)
Mamãe não quer . . . não faça
Papai diz não . . . não fale
Vovó ralhou . . . se cale
Vovô gritou . . . não ande
Placas de rua . . . não corra
Placas no verde . . . não pise
No luminoso : . . não fume
Olha o hospital . . . silêncio
Sinal vermelho . . não siga
Setas de mão . . . não vire
Vá sempre em frente nem pense
É Contramão
Olha cama de gato
Olha a garra dele
É cama de gato
Melhor se cuidar
No campo do adversário
É bom jogar com muita calma
Procurando pela brecha
Pra poder ganhar
Acalma a bola, rola a bola, trata a bola
Limpa a bola que é preciso faturar
E esse jogo tá um osso
É um angu que tem caroço
E é preciso desembolar
E se por baixo não tá dando
É melhor tentar por cima
Oi com a cabeça dá
Você me diz que esse goleiro
é titular da seleção
Só vou saber mas é quando eu chutar
Matilda, Matilda
No campo do adversário
É bom jogar com muita calma
Procurando pela brecha
É Uma Partida de Futebol (Samuel Rosa e Nando Reis)
Bola na trave não altera o placar
Bola na área sem ninguém pra cabecear
Bola na rede pra fazer o gol
Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
A bandeira no estádio é um estandarte
A flâmula pendurada na parede do quarto
O distintivo na camisa do uniforme
Que coisa linda, é uma partida de futebol
Posso morrer pelo meu time
Se ele perder, que dor, imenso crime
Posso chorar se ele não ganhar
Mas se ele ganha, não adianta
Não há garganta que não pare de berrar
A chuteira veste o pé descalço
O tapete da realeza é verde
Olhando para bola eu vejo o sol
Está rolando agora, é uma partida de futebol
O meio campo é lugar dos craques
Que vão levando o time todo pro ataque
O centroavante, o mais importante
Que emocionante, é uma partida de futebol
O meu goleiro é um homem de elástico
Os dois zagueiros têm a chave do cadeado
Os laterais fecham a defesa
Mas que beleza é uma partida de futebol
Bola na trave não altera o placar
Bola na área sem ninguém pra cabecear
Bola na rede pra fazer o gol
Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
O meio campo é lugar dos craques
Que vão levando o time todo pro ataque
O centroavante, o mais importante
Que emocionante, é uma partida de futebol !
Utêrêrêrê, utêrêrêrê, utêrêrêrê, utêrêrêrê
30 junho 2006
29 junho 2006
Siri
 Documentarista. Agnaldo Antonio Azevedo, ou simplesmente Siri, como gostava de ser chamado, nasceu em Salvador, no bairro do Tororó, em 1931. O apelido de Siri ganhou devido a uma enorme semelhança com um então famoso jogador do Vitória. Bom de bola, o jovem Agnaldo Azevedo não hesitou em adotar definitivamente o apelido. No início dos anos 60 ele ganhava a vida como representante farmacêutico, vendendo remédios. Seus primeiros passos no cinema estão muito ligados a sua primeira experiência numa moviola, na montagem do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Seu amigo Glauber Rocha o intimou a participar do projeto de Deus e o Diabo, porque via nele o tino comercial necessário para assumir a produção do filme. Encerrada a fase de gravação, viajou com Glauber Rocha para o Rio de Janeiro, onde viu, pela primeira vez, uma moviola em ação. Ali, frente ao processo de montagem, assistindo como nascia “outro filme”, sem intervenção de câmeras e lentes, Siri descobriu que já estava apaixonado pelo cinema. Não demorou para que a Bahia perdesse um competente representante farmacêutico.
Documentarista. Agnaldo Antonio Azevedo, ou simplesmente Siri, como gostava de ser chamado, nasceu em Salvador, no bairro do Tororó, em 1931. O apelido de Siri ganhou devido a uma enorme semelhança com um então famoso jogador do Vitória. Bom de bola, o jovem Agnaldo Azevedo não hesitou em adotar definitivamente o apelido. No início dos anos 60 ele ganhava a vida como representante farmacêutico, vendendo remédios. Seus primeiros passos no cinema estão muito ligados a sua primeira experiência numa moviola, na montagem do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Seu amigo Glauber Rocha o intimou a participar do projeto de Deus e o Diabo, porque via nele o tino comercial necessário para assumir a produção do filme. Encerrada a fase de gravação, viajou com Glauber Rocha para o Rio de Janeiro, onde viu, pela primeira vez, uma moviola em ação. Ali, frente ao processo de montagem, assistindo como nascia “outro filme”, sem intervenção de câmeras e lentes, Siri descobriu que já estava apaixonado pelo cinema. Não demorou para que a Bahia perdesse um competente representante farmacêutico.Siri participou, como diretor de produção ou assistente de direção, de alguns dos mais importantes longas metragens do cinema brasileiro. Com Glauber Rocha, trabalhou em Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro, clássicos do Cinema Novo. Também deixou sua marca em Tenda dos Milagres (assistente de direção), de Nélson Pereira dos Santos. Terminada a chamada fase de Glauber, Siri passou a dirigir seus próprios filmes, sempre no estilo documentário, com os quais foi premiado nos mais importantes festivais de cinema do País e até do exterior.
Os amigos revelaram que as inspirações de Siri vinham de acontecimentos reais ou estalos repentinos. Anos atrás, lendo no jornal a notícia de que a Barragem de Itaparica iria inundar várias cidades, inclusive Rodelas, situada às margens do Rio São Francisco, Siri sentiu-se imediatamente motivado a transformar o feito em cinema. A idéia deu vida às imagens de Adeus Rodelas, com flagrantes da água invadindo a cidade e de lágrimas de seus moradores, que renderam ao cineasta alguns prêmios internacionais. Outro exemplo de suas sacadas foi a chegada de várias filarmônicas do interior à capital baiana, no início da década de 70. De espectador encantado para idealizador de mais um filme, foi um passo. Siri decidiu visitar cada uma das cidades representadas pelas orquestras, para ver de perto o dia-a-dia dos seus músicos. Em 1973, nasceu a fita As Filarmônicas, que no ano seguinte rendeu mais um prêmio.
Artista da luz, da imagem em movimento, Siri gostava de dar títulos compridos às suas obras. Os títulos de seus filmes revelam o olhar de quem fazia cinema com uma visão poetizante. Dança Negra; Creio em Ti, Meu São Jorge dos Ilhéus; A Zabiapunga de Cairu. Festança de Outrora; A Noite da Dança do Xirê e da Seresta; Memória de Deus e do Diabo em Monte Santo e Cocorobó; Por que Só Tatauí?; A Chuva que Vem do Chão; Não Houve Tempo Sequer para as Lágrimas. Além dos títulos, os temas de sua predileção foram ligados à lírica da cultura popular, aos artistas plásticos e aos poetas Boca do Inferno; A Volta do Boca do Inferno; As Phylarmônicas; Memória do Carnaval de 1978 - Uma Decoração do Artista Juarez Paraíso; A Noite do Folclore; Calasans Neto, o Mestre da Vida e das Artes, muitos filmes e vidas, e um imenso roteiro de participação como produtor, montador, roteirista ao lado dos melhores de nossa arte cinematográfica.
O mais premiado cineasta da Bahia guarda na sua filmografia cerca de 25 documentários e meia dúzia de vídeos. Seu último filme, Capeta Carybé, mostra a integração entre o artista plástico baiano Carybé e a cidade do Salvador. Com ele, Siri já havia conquistado dois prêmios no Festival de Brasília, prêmio do público no Festival de Curitiba e o de melhor documentário no Festival do Ceará. Concorreu também, entre os favoritos no Rio Cine Festival e foi selecionado para a mostra oficial do Festival de Gramado. O cineasta que saiu por aí filmando a gente e as coisas da Bahia, de Xique-Xique a Cocorobó, do Carnaval às filarmônicas, de Carybé a Calasans Neto, foi um forte referencial para todos os cineastas da Bahia. Siri - segundo contam os que trabalharam com ele - tinha a peculiaridade de “filmar montando”. Desperdiçava muito pouca película, gravando apenas a sequência de imagens que já tinha na cabeça.
Documentarista convicto, dono de uma técnica que fez escola e influenciou as últimas gerações do cinema baiano, Siri pela primeira vez se aventuraria no mundo da criação ficcional e logo com um projeto dos mais ousados, até para quem já milita no ramo. O Homem de Vidro, baseada na obra do contista baiano Altamirando Camacã. Não deu tempo. Em parceria com Chico Drummond, ele tinha um projeto de fazer vários outros trabalhos inspirados em pintores baianos. Já havia, inclusive, pautado Sante Scaldaferri, Floriano Teixeira e Tatti Moreno.
No dia 30 de julho de 1997, no Hospital Jorge Valente, após entrar em coma, acometido de convulsões provocadas por um tumor no cérebro, o cineasta Agnaldo Siri Azevedo encerra sua participação no filme da vida. Acostumado a muitas vitórias e prêmios, deixou todos meio atordoados com a notícia. Mas, no imaginário de amigos, aparentes e admiradores da sua obra, não fica o sofrimento dos seus últimos dias. Fica o espírito jovem e o vigor incessável (mesmo com orçamentos curtos, falta de reconhecimento e tantos outros obstáculos que nunca fizeram desistir da sua paixão, do seu ofício), que fizeram dele o mais prolífico cineasta baiano, documentarista admirado em todo o Brasil. Fica na memória a obra de um cineasta inspirado, pouco conhecido das massas e que, na opinião praticamente unânime de seus companheiros de estrada, sempre soube valorizar a beleza e a poesia das imagens.
28 junho 2006
Um enigma de rara beleza e poesia: Orquídea Negra
 Quando a minissérie foi publicada no Brasil em 1990 pela Editora Globo o sucesso foi imediato. Agora a minissérie escrita por Neil Gaiman e ilustrada por Dave Mckean é republicada numa edição de luxo com direito a capa dura, pela Opera Graphica Editora. Trata-se de Orquídea Negra. A personagem surgiu pela primeira vez no nº428 da revista Adventure Comics, agosto de 1972. Participou das histórias da Supermoça, apareceu na revista Super Friends e foi integrante da antiga legião dos Super Heróis, sempre sem passado nem futuro, apenas com o presente. Depois passou a fazer parte do Esquadrão Suicida na série Crise nas Infinitas Terras para logo em seguida desaparecer.
Quando a minissérie foi publicada no Brasil em 1990 pela Editora Globo o sucesso foi imediato. Agora a minissérie escrita por Neil Gaiman e ilustrada por Dave Mckean é republicada numa edição de luxo com direito a capa dura, pela Opera Graphica Editora. Trata-se de Orquídea Negra. A personagem surgiu pela primeira vez no nº428 da revista Adventure Comics, agosto de 1972. Participou das histórias da Supermoça, apareceu na revista Super Friends e foi integrante da antiga legião dos Super Heróis, sempre sem passado nem futuro, apenas com o presente. Depois passou a fazer parte do Esquadrão Suicida na série Crise nas Infinitas Terras para logo em seguida desaparecer.Gaiman e McKean pegaram a personagem totalmente obscura e criaram uma obra-prima. A graphic novel tem visual inovador. A história da personagem é recontada de outra maneira e toma novos rumos cheios de beleza e poesia. Num ambiente cinzento e corrompido pelo poder de um magnata sem escrúpulos chamado Lex Luthor, a Orquídea Negra ressurgir como a mais rara das flores. Na verdade ela é um ser híbrido que necessita das mesmas condições que uma planta precisa para sobreviver. Mas ela não é uma planta...nem uma mulher...A Orquídea Negra é um enigma cuja solução encontra-se em seu próprio passado.
Em busca de suas origens, ela depara-se com, seres bastante incomuns como o Monstro do Pântano, Hera Venenosa e o Homem Morcego. O autor dessa nova origem é o escritor inglês Neil Gaiman (Sandman, o Mestre dos Sonhos). Usando uma técnica mista que mistura tinta e óleo com tinta spray para carros e filtros de tecido sobre aquarelas, o desenhista Dave Mckean trabalhou as imagens da minissérie mantendo apenas o tom do uniforme da Orquídea, cor púrpura, intacto. Os cenários mudavam de tonalidade de acordo com a situação e o estado de espírito dos personagens. Lembra o filme de Bergman, “Gritos e Sussurros”, ou mesmo o trabalho do desenhista Bill Sienckiewicz.
A narrativa mostra como Philip Sylvian, um botânico que estudou na mesma classe de Pamela Isley (futura Hera Venenosa, inimiga de Batman) e Alec Holland (que se tornaria o Monstro do Pântano), desenvolveram criaturas mistas de planta e ser humano. Essas criaturas, geradas a partir de orquídeas, foram feitas à imagem de uma outra botânica por quem Sylvian era apaixonado. Mas cada uma das plantas carrega em si uma espécie de memória genética que é despertada conforme cresce, e uma série de incidentes pode impedir essas memórias de despertarem totalmente. As criaturas têm poderes enormes e uma tendência a fazer o bem, mas não sabem se devem se importar mais com plantas ou seres humanos.
O problema começa a surgir no momento em que o ex-marido da musa que inspirou as orquídeas de Philip sair da cadeia e envolver Lex Luthor na história. Luthor passa a fazer de tudo para dominar o segredo das orquídeas. Ao mesmo tempo, duas delas - uma adulta e uma criança - tentam manterem-se vivas, longe de Luthor e reiniciar o plantio de sua raça.
Na obra, Orquídea Negra busca sua identidade tal qual uma criança inocente que começa a conhecer o lado negro do mundo: o Asilo Arkham. “Ela é uma flor – conta Neil Gaiman -, não uma divindade da natureza como o Monstro do Pântano. O termo técnico que usei para ela foi Rainha da Primavera com todas as implicações que isso traz, inclusive vida curta. Os Monstros do Pântano vivem eternamente, as Rainhas da Primavera não. Elas representam beleza, inocência, pureza e paz”.
Antes que Dave pegasse o lápis – conta Neil – nós conversamos sobre o que queríamos fazer com a atmosfera de cada numero da minissérie. A decisão inicial foi de que a primeira parte seria muito direta, ousadamente realista. Tudo acontece em cidades e salas dentro de um mundo feito pelo homem”. Os tons arroxeados da Orquídea convivem com o cinza, o preto e o branco, do mundo ao seu redor. “Na segunda parte, começamos a explorar outras coisas como o Central Park de Gotham City e o cemitério nos fundos do Asilo Arkham. Ainda são locais feitos pelo homem, mas há profundezas estranhas neles”. As cores se misturam gradativamente.
Ao fazer a última parte, sabíamos que tudo aquilo tinha que sair bonito, porque tudo acontecia em áreas selvagens: as flores tropicais da Amazônia e os pântanos da Louisiana. Em vez de minúsculos borrifos de cor num mundo cinzento, nos temos minúsculas pessoas cinzentas movendo-se dentro da bela floresta tropical. E é neste último número que há uma explosão de cores. Orquídea encontra o Monstro do Pântano, e acaba na Amazônia, onde enfrenta agentes de Lex Luthor. Em cada imagem sequenciada, a fusão do expressionismo figurativo e abstrato com o impressionismo numa atmosfera de sonho, imaginação, memória. Essa viagem através da arte estonteante de Mckean atravessa caminhos que parecerão novos, mas que sempre estiveram lá, apenas nunca havia sido trilhados. E tudo começa com uma orquídea e um pôr-do-sol. Belo.
27 junho 2006
Gatos são livres como a imaginação
 No Egito os gatos eram idolatrados. Na Idade Média não escapavam das fogueiras ao lado das “bruxas”. Em 1494, por ordem do papa Inocêncio III, foram ferozmente perseguidos e exterminados. Mas nos séculos 18 e 19, escritores protegiam os gatos, achavam que eram animais tão livres quanto a imaginação. Como os escritores daquele período eram protegidos dos nobres, esses passaram a gostar de gatos. E os felinos viraram símbolo de riqueza e inteligência. Entre os amigos dos gatos estão Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll e T.S.Eliot.
No Egito os gatos eram idolatrados. Na Idade Média não escapavam das fogueiras ao lado das “bruxas”. Em 1494, por ordem do papa Inocêncio III, foram ferozmente perseguidos e exterminados. Mas nos séculos 18 e 19, escritores protegiam os gatos, achavam que eram animais tão livres quanto a imaginação. Como os escritores daquele período eram protegidos dos nobres, esses passaram a gostar de gatos. E os felinos viraram símbolo de riqueza e inteligência. Entre os amigos dos gatos estão Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll e T.S.Eliot.Selvagens ou domésticos, os gatos são enigmáticos e cheios de estilo. Eles pertencem à família dos Felídeos e, aqui no Brasil, gato ou Felis Catus (nome científico, em latim) que pode significar muita coisa: ligação clandestina de eletricidade, lapso ou engano proposital (muito comum em partidas de dominó) ou sinônimo para gente bonita (não é à toa que, quando uma menina e um menino são bonitos, são chamados de gato ou gata). Os felinos – do tigre ao gato doméstico – têm charme e elegância.
O gato divide espaço com o homem há muitos séculos. Imortalizados como personagens de desenhos animados e histórias em quadrinhos, vamos conhecer um pouco mais dessas feras que todos nós amamos. Um dos clássicos dos quadrinhos que durou três décadas (1910 a 1940) foi Krazy Kat, de George Herriman. Aventura do rato Ignatz cuja principal diversão é dar tijoladas na cabeça da felina. As peripécias dos dois fizeram sucesso em, livros, desenhos animados, quadrinhos e num balé.
Em 1917 Pat Sullivan cria o desenho animado Gato Félix. Até então os desenhos se resumiam a uma série de corridas e lutas. Mas Félix tinha um caráter distinto e seus próprios maneirismos – costumava andar com as mãos atrás das costas quando tinha de resolver um problema, uma mania do próprio desenhista Otto Messmer – e caráter. Ele pára, pensa, tenta achar a solução de um problema. Os filmes tinham nonsense que encantava, onde os pontos de interrogação que pairavam sobre a cabeça do pensativo Félix se tornavam varas de pescar. Era a linguagem experimental nos desenhos e quadrinhos. Félix usou o balão (fala) como balão para fugir de Marte e voltar para a Terra. Era a poesia e o lirismo de um gato preto em busca da amada. Sullivan, o produtor, teve a esperteza de registrar o personagem e comercializar a sua imagem em até 200 produtos. Félix foi um ícone dos anos 20.
E nos desenhos animados não se pode esquecer do Manda Chuva (da dupla William Hanna e Joseph Barbera), líder de uma turma que mora em um beco. Junto com seus amigos dá golpes para arranjar dinheiro e adora aprontar com o Guarda Belo. Já Tom e Jerry brigam o tempo todo e o gato sempre leva a pior, mas insiste em perseguir Jerry, rápido e esperto que sempre consegue escapar. Tem o Frajola e sua vontade de eliminar o passarinho Piu Piu. Ambos moram na casa de uma simpática velhinha e o gato sempre se dá mal nas suas tentativas.
Ainda dos estúdios de Hanna Barbera surgiram Zé Bolha e o parceiro do rato Juca Bala. Quem lembra da turma da Gatolândia? E de Chuvisco sempre correndo atrás de Plic e Ploc?. E China, o fiel Ajudante de Hong Kong Fu?. Bu, o gato fantasma de O Fantasminha Legal. Ou mesmo do detetive Olho Vivo. E Bacamarte que não dava trégua a Chumbinho. E Jambo e Ruivão?
Dos estúdios Disney não dá para esquecer do Gato Risonho de Alice no País das Maravilhas, ou dos irmãos Si e Ão, de A Dama e o Vagabundo. Lembra-se de Fígaro, o gato de Gepeto em Pinóquio, ou mesmo Aristogatas. Não esquecer de Ron ron bagunçando a vida do atrapalhado Peninha...
Do Brasil temos um casal de gatos (ele branco e ela preta) que apronta muito na tira diária O Condomínio, do desenhista Laerte Coutinho. E Maurício de Sousa traz Mingau, tão faminto quanto sua dona Magali.
O gorducho e preguiçoso Garfield (criação de Jim Davis), todo mundo conhece. Ele adora lasanha, estraçalha o carteiro, acaba com as cortinas e ataca a geladeira do seu dono, Jon. Garfield detesta as segundas-feiras e gosta de mostrar o quanto os cachorros são bobos. Odie, o cão com que mora, é sua vítima preferida.
E o que dizer do libidinoso Fritz, the Cat, criação do papa dos quadrinhos underground, Robert Crumb a partir de 1965. Crumb foi um dos artífices do movimento de introdução do sexo, drogas e política nos quadrinhos, uma forma de contestação do american way of life. São muitos exemplos desses animais que estão nos sonhos de todos, viraram mitos. Mas não poderia esquecer de duas obras imprescindíveis em homenagear esses felinos. Os Olhos do Gato, de Moebius e Jodorowski, e Maus, de Art Spiegelman, esse último uma crítica ao nazismo.
26 junho 2006
Uma terra ao mesmo tempo singular e plural
 Quando os portugueses aqui chegaram, cheios de sarnas, desdentados e podres de não tomar banhos ficaram maravilhados com todo aquele cenário da natureza. Eles vinham das terras sem males e encontraram um povo bonito e disponível, sexualmente disponível. A epiderme falou mais alto e a mistura de raças aconteceu. Naquela época não havia essa coisa de pecado, de proibição. Quase tudo era permitido. Mas os raivosos jesuítas chegaram e resolveram não só escrever uma gramática tupi como impuseram a idéia da morte e ressurreição de Cristo.
Quando os portugueses aqui chegaram, cheios de sarnas, desdentados e podres de não tomar banhos ficaram maravilhados com todo aquele cenário da natureza. Eles vinham das terras sem males e encontraram um povo bonito e disponível, sexualmente disponível. A epiderme falou mais alto e a mistura de raças aconteceu. Naquela época não havia essa coisa de pecado, de proibição. Quase tudo era permitido. Mas os raivosos jesuítas chegaram e resolveram não só escrever uma gramática tupi como impuseram a idéia da morte e ressurreição de Cristo.Em seguida Tomé de Souza começa a construção de Salvador e nos séculos seguintes, a cidade se transforma num grande púlpito de igreja. É igreja para tudo quanto é lado e um temor violento do pecado. O nosso quotidiano oferece tantas sugestões eróticas, como nossa mania de falar tocando nas pessoas, o riso fácil, as roupas sumárias (verão o ano inteiro), nossa despreocupada habilidade de pontuar as frases com palavrões.
O estrangeiro vem triste, buscando algo perdido e, aí no caso, o que está perdido é a sua sexualidade espontânea. Em luto, tem que rir do efeito cômico do gesto obsceno e esquece sua dor. Ensinamos ao estrangeiro triste a nossa técnica de apaziguamento da dor. Terminamos por acreditar que não temos dor e, como bons fingidores, acreditamos que nós não sofremos e que estamos acima de tudo isso.
Assim, Salvador nasceu de um sonho. O monarca lusitano D.João III sonhava em edificar uma capital portuguesa nas Américas. Sem nunca ter colocado os pés por essas bandas, ele conhecia a cidade através das crônicas de Gabriel Soares de Souza, que traduzia para o rei, em cartas poéticas, toda a beleza selvagem da cidade erguida sobre a montanha. Outros viajantes estrangeiros que desembarcaram aqui fizeram verdadeiras campanhas de marketing mais eficientes da história. A pedido do rei, através das cartas dos cronistas do século XVI, Tomé de Souza faz a travessia no Mar das Tormentas, chega ao Porto da Barra e, logo em seguida, começa a erguer a cidade encomendada, traçada com antecedência pelo mestre de obras Luiz Dias.
A cidade do Salvador nasceu como fortaleza. Ao longo do tempo esses fortes orlaram a face oeste da Baía de Todos os Santos e, até em altos mais para a terra, foram construídos para comprovar a defesa da Capital do Império Português ao Sul do Equador. Se antes exerciam funções militares, hoje são relíquias arquitetônicas e históricas compondo o arsenal da cidade como testemunhando o muito que desempenharam em sua história.
Descoberta pela flotilha comandada pelo navegador português Gonçalo Coelho, a Baía de Todos os Santos (um local paradisíaco de 1.052 km2 de águas límpidas e de um conjunto de ilhas e praias) foi transformada anos depois no principal porto do hemisfério sul no período do Brasil colônia. De lugares paradisíacos e de beleza natural intacta, a baia abriga, pelo menos, 56 ilhas e uma centena de praias e lugarejos, proporcionando muito lazer aos visitantes e aos nativos moradores. Nas ilhas de Itaparica, do Medo e dos Frades, os visitantes podem aproveitar um pouco as belezas naturais da baía.
A cidade já erguida fervilhava com o vaivém de carregadores, carroceiros, navios a vapor no porto, vendedoras de mingau, saraus literários em casas ilustres da Vitória e passeios campestres nos arrabaldes do Porto da Barra. Privado de ver a cidade, Junqueira Freire a projeta nas suas rimas. Da cela do mosteiro de São Bento, o poeta escandalizou a sociedade da época com seus versos lascivos sobre Salvador. Mas ele não advinha que a antiga Princesa das Montanhas não era mais a preferida do sultão, posto perdido para o Rio de Janeiro, capital do império. Morreu de tesão por Salvador. Além de Freire, o alagoano Jorge de Lima, na década de 20 do século passado, queria se perder nas “curvas gostosas da cidade mais bonita do Brasil”. E até o mineiro Carlos Drummond de Andrade, que nunca veio à Bahia, reconhecia a necessidade de escrever sobre ela.
Mas não é só de empolgação que a cidade viveu, o satírico Gregório de Mattos, em suas rimas criticou os costumes e personagens baianos. O Boca do Inferno incomodou tanto que foi expulso da cidade. Séculos depois, Cuíca de Santo Amaro usava o cordel para cantar os podres das ilustres figuras da cidade. O encanto com a paisagem física de Salvador vai acompanhar outras gerações de escritores posteriores ao século XIX. E Jorge Amado, através do olhar apaixonado de seus personagens, deixa transparecer a sedução que a cidade exerceu sobre ele a vida inteira.
Salvador é um presépio, armado na encosta da montanha, equilibrado nas ladeiras. Seus dois andares, separados por uma escarpa de 20 quilômetros de extensão e 80 metros de altura - Cidade Alta e Cidade Baixa, a primeira cheia de história, com seus sobradões coloniais e igrejas, a segunda com a magia do mar e do movimento do porto – fazem desta cidade uma das mais belas do Brasil. O seu povo, plural na sua etnia e singular nas suas manifestações. Salvador é singular porque é plural. A Bahia é plural na sua diversidade de religiões e singular na tolerância da coexistência das mesmas respeitando a opção dos indivíduos que as praticam. É muito comum na Bahia ser católico e adepto da umbanda ao mesmo tempo, independente de sua cor ou classe social. As próprias festas católicas têm também sua versão profana.
22 junho 2006
Carlos Chiacchio
 Escritor, animador cultural e jornalista. Carlos Chiacchio nasceu às margens do lendário Rio São Francisco, na cidade mineira de Januária em 1884. Fez-se baiano pelo coração, pois aqui chegou ainda jovem para estudar. Em 1895 ingressou, como aluno interno, no Colégio Spencer, transferindo-se, depois, para o Ginásio Carneiro Ribeiro. Em 1910, formou-se em Medicina, defendendo a tese A dor. Médico da Leste Brasileiro por 18 anos, cargo de que se afastou pela lei de desacumulação, exerceu também sua profissão no Lloyd Brasileiro, linha Rio de Janeiro-Buenos Aires, e na comissão federal de estudos da construção da estrada de ferro Machado Portela-Carinhanha. Foi professor de filosofia no Colégio 15 de Novembro, de Estudos Brasileiros, na Escola de Belas Artes, e catedrático de Estética na Faculdade de Filosofia, integrada depois na UFBA. Além de membro dos mais atuantes da Nova Cruzada, associação literária fundada em 13 de maio de 1901, foi o criador, a 28 de novembro de 1936, de Ala das Letras e das Artes, agremiação de grandes iniciativas culturais, como o Salão de Belas Artes, realizado em anos diversos.
Escritor, animador cultural e jornalista. Carlos Chiacchio nasceu às margens do lendário Rio São Francisco, na cidade mineira de Januária em 1884. Fez-se baiano pelo coração, pois aqui chegou ainda jovem para estudar. Em 1895 ingressou, como aluno interno, no Colégio Spencer, transferindo-se, depois, para o Ginásio Carneiro Ribeiro. Em 1910, formou-se em Medicina, defendendo a tese A dor. Médico da Leste Brasileiro por 18 anos, cargo de que se afastou pela lei de desacumulação, exerceu também sua profissão no Lloyd Brasileiro, linha Rio de Janeiro-Buenos Aires, e na comissão federal de estudos da construção da estrada de ferro Machado Portela-Carinhanha. Foi professor de filosofia no Colégio 15 de Novembro, de Estudos Brasileiros, na Escola de Belas Artes, e catedrático de Estética na Faculdade de Filosofia, integrada depois na UFBA. Além de membro dos mais atuantes da Nova Cruzada, associação literária fundada em 13 de maio de 1901, foi o criador, a 28 de novembro de 1936, de Ala das Letras e das Artes, agremiação de grandes iniciativas culturais, como o Salão de Belas Artes, realizado em anos diversos.Líder do movimento de renovação intelectual da Bahia, tendo fundado duas academias literárias - Nova Cruzada e Ala das Letras e das Artes -, além, de publicar livros e revistas, com estudos retrospectivos do back ground história da Bahia. Foi um dos batalhadores, ao lado do major Cosme de Farias, contra o analfabetismo. Ele foi um animador das artes e das letras na Bahia. À frente da Nova Cruzada congregou numa campanha de elevado objetivo, a geração dos nossos intelectuais, e na Ala das Letras e das Artes, estimulou a vida artística da cidade através de publicações, conferências e exposições.
Homem de letras, poeta, prosador, ensaísta, crítico de letras e artes do intelectual que foi, por todos os títulos. Um animador da cultura. Ele idealizou uma verdadeira ação cultural quando organizou encontros de cultura, salões de arte, festivais, jogos florais, torneios, planejou museus, publicações periódicas e edições de livros e revistas. Sua longa colaboração no jornal A Tarde, em cujas colunas manteve, semanalmente, com exemplar assiduidade, a secção de crítica intitulada Homens & Obras (1928/1946), constituindo um registro constante e praticamente completo de tudo o que de mais significativo aconteceu na Bahia, nas áreas da literatura e arte. De 24 de janeiro de 1928 a 4 de setembro de 1946, publicou 957 rodapés, principalmente de crítica literária. Foram numerosas biografias sobre figuras desaparecidas para resgatar na lembrança das nossas gentes os feitos de várias personalidades. Ao lado de publicação como Paginário, selecionou e divulgou escritores, poetas e artistas.
Entre os livros publicados estão À Margem de uma Polêmica (1914), Os Grifos (1923), Infância, versos (1938), Biocrítica (1941), Cronologia de Rui (1949) e Modernistas e Ultramodernistas (1951). Dotado de grande energia multiplicava-se Carlos Chiacchio em atividades artísticas, literárias, de jornalismo de críticas e editoriais. Além do artigo semanal de crítica literária em A Tarde, da publicação de Ala, em O Imparcial, das edições do Jornal de Ala e das edições Ala das Letras e das Artes, organizava os Salões de Ala, que durante quase toda a década de 40 foram as únicas realizações no campo das artes plásticas na Bahia, reunindo os artistas mais importantes como Presciliano Silva, Alberto Valença, Emídio Magalhães, Mendonça e Filho, Jayme Hora, Raimundo Aguiar, Oséas, e tantos outros, bem como os primeiros modernistas Mário Cravo Júnior, Carlos Bastos, Genaro de Carvalho, dos quais patrocinou e comentou em seus artigos de crítica as primeiras exposições. Na crítica literária Carlos Chiacchio afirma-se como uma das vozes mais autorizadas no seu tempo.
Para o jornalista Jorge Calmon, “Carlos Chiacchio foi, sem favor, a figura de maior presença na vida cultural da Bahia, na primeira metade deste século. Desconhecemos quem, em seu tempo, haja exercido influência equivalente, influência que não decorreu, propriamente, de sua produção, como homem de letras, não obstante notável, mas do papel que preferiu desempenhar, de criador ou incentivador de manifestações, e de grupos, colocando-se acima das competições (salvo quando lhe feriam os brios, ou lhe maltratavam as afeções, caso em que se transmudava no bravo polemista), foi uma espécie de papa da cultura na província, a reinar nas igrejas de literatos e artistas com autoridade incontrastável. E pôde alcançar esta situação de eminência, necessária ao exercício da missão que o atraía, graças à utilização da imprensa, numa época em que esta - voltada para as predições que então identificava no seu público - costumava dedicar às coisas de cultura mais atenção e espaço do que atualmente lhes reserva”. Já a pesquisadora Dulce Mascarenhas escreveu: “Iniciando, em A Tarde, sua série de rodapés críticos, em janeiro de 1928, Chiacchio fez um pequeno inventário de suas idéias, de seus depoimentos anteriores a essa data, sobre o Modernismo brasileiro, nele desenvolvendo parecerem já dados, acrescentando outros, organizando algo de substancial, a respeito do que pensava da renovação literária do Brasil, nas primeiras décadas do século XX”.
No dia 17 de julho de 1947 os meios intelectuais baianos receberam a dolorosa surpresa da morte do escritor e animador das artes e letras na Bahia. Ele foi enterrado no cemitério do Campo Santo. Grande é, com efeito, a perda da Bahia. Com a morte de Carlos Chiacchio desaparece uma das figuras que lhe representavam a inteligência e o saber. Morreu o homem, mas a sua obra ainda vive. Que outros lhe recolham o exemplo de luta e lhe continuem a obra. Com a presença de acadêmicos, historiadores e representantes dos diversos setores culturais, Carlos Eduardo da Rocha lançou, em 1997, o livro Homenagem a Carlos Chiacchio através do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.
21 junho 2006
Reich queria repolitizar a vida quotidiana
 O psicanalista austríaco Wilhelm Reich (1897/1957) dava grande ênfase à importância de desenvolver uma livre expressão de sentimentos sexuais e emocionais dentro do relacionamento amoroso maduro. Reich enfatizou a natureza essencialmente sexual das energias com as quais lidava e descobriu que a bioenergia era bloqueada de forma mais intensa na área pélvica de seus pacientes. Ele chegou a acreditar que a meta da terapia deveria ser a libertação dos bloqueios do corpo e a obtenção de plena capacidade para o orgasmo sexual, o qual sentia estar bloqueado na maioria dos homens e das mulheres. As opiniões radicais de Reich a respeito de sexualidade resultaram em consideráveis equívocos e distorções de seu trabalho por autores futuros e, conseqüentemente, despertaram muitos ataques difamatórios e infundados
O psicanalista austríaco Wilhelm Reich (1897/1957) dava grande ênfase à importância de desenvolver uma livre expressão de sentimentos sexuais e emocionais dentro do relacionamento amoroso maduro. Reich enfatizou a natureza essencialmente sexual das energias com as quais lidava e descobriu que a bioenergia era bloqueada de forma mais intensa na área pélvica de seus pacientes. Ele chegou a acreditar que a meta da terapia deveria ser a libertação dos bloqueios do corpo e a obtenção de plena capacidade para o orgasmo sexual, o qual sentia estar bloqueado na maioria dos homens e das mulheres. As opiniões radicais de Reich a respeito de sexualidade resultaram em consideráveis equívocos e distorções de seu trabalho por autores futuros e, conseqüentemente, despertaram muitos ataques difamatórios e infundadosCompilou volumes de pesquisa sobre a sexualidade humana e foi o primeiro a analisar os orgasmos e dividi-los em quatro fases. Ele pregava a sexualidade como caminho para se chegar ao inconsciente e acreditava que a sexualidade genital está ligada à saúde física e mental do homem. Um de seus temas prediletos era o da liberação sexual das crianças e adolescentes, vítimas, a seu ver, da família, que era descrita como “uma fábrica de ideologias autoritárias e de estruturas mentais conservadoras”. Ele pretendia repolitizar a vida quotidiana e sobretudo a sexualidade.
Filho rebelde de Freud, marxista dissidente, judeu anti-nazista, suposta vítima da “repressão” americana, ele foi reabilitado na década de 70 pela juventude dos países capitalistas, que ressuscitou seu sonho de vida e que buscou em sua obra uma resposta para a infelicidade de viver. Reich estava convencido de que a sexualidade humana é naturalmente harmoniosa e pacífica. Somente as alienações sociais e as repressões da sociedade autoritária fazem esta sexualidade desviar-se para o patológico. A natureza humana é naturalmente boa; a sexualidade é naturalmente “sadia”. Este otimismo ontológico se manifesta ao longo de toda a sua obra com uma certeza absoluta. É sua repressão, sua regulamentação moral ou religiosa – e somente ela – que leva o indivíduo à neurose, aos vícios de todo tipo, aos ressentimentos de ordem social, ou até mesmo ao fascismo. Ou seja, bastaria assegurar a livre satisfação daquelas necessidades para tornar totalmente inútil o próprio conceito de moral.
“O indivíduo sadio, apto a uma plena satisfação sexual, é capaz de auto-regulação”. Em outros termos, a felicidade sexual da população constitui a melhor garantia de segurança do corpo social. É a livre satisfação do prazer sexual sadio, e não sua domesticação ou seja regulamentação familiar, que permite apaziguar a vida em sociedade.
Segundo Reich, a maior parte das próprias doenças psíquicas têm origem na repressão, desde a infância, da atividade genital. Como o primeiro e o mais famoso dos psicanalistas sexuais radicais, Reich viu uma de suas reforma social radical serem difamadas por vários grupos, desde os psicanalistas ortodoxos, as organizações religiosas, o governo norte americano, até aqueles que ele taxava publicamente de “fascistas vermelhos”. Reich era o flagelo do casamento burguês e via na sexualidade genital – em sua frustração ou em seu cultivo – o indicador para os sofrimentos da modernidade.
Para Reich, a maioria dos instintos socialmente perturbadores, como a agressividade, as taras, a violência sexual, não passam de consequência da repressão sexual imposta aos indivíduos da sociedade. Amoral repressiva das sociedades autoritárias deforma os instintos sexuais que acabam se exteriorizando agressivamente e prejudicialmente para a própria comunidade. Nessas condições, a moral repressiva (ou a civilização que esteriliza os instintos de prazer) é a grande responsável pela violência e agressividade da humanidade, e não, como afirmava Freud, uma necessidade para suprimir ou refrear tais instintos. A moral repressora – afirma Reich – serve menos para represar instintos nocivos à sociedade, e mais para atender aos interesses das classes dominantes em manter os seus privilégios econômicos.
Reich acreditava que a reforma política sem liberdade sexual é impossível: liberdade e saúde sexual são a mesma coisa. Embora defendesse a igualdade da expressão sexual para as mulheres, deu particular atenção aos direitos sexuais das crianças e dos adolescentes. Como o primeiro e o mais famoso dos psicanalistas sexuais radicais, Wilhelm Reich foi perseguido por vários grupos, desde os psicanalistas ortodoxos, as organizações religiosas e o governo norte-americano. Segundo ele, a sexualidade, expressa de modo adequado, é a nossa principal fonte de felicidade, e quem é feliz está livre da sede de poder. Para Reich, o caráter é uma formação defensiva, uma “armadeira” protetora desenvolvida para se resistir às vicissitudes de vida. O método terapêutico de Reich envolve atravessar a armadura do caráter, destruindo o “equilíbrio neurótico” do indivíduo. Antecipando o caminho mais tarde traçado por Marcuse, Reich declara que a cultura moderna é especificamente repressiva. A pornografia era encarada por Reich como o produto da libido frustrada.
20 junho 2006
Livro de cabeceira de Greenaway
 Transitando com desenvoltura por todas várias linguagens (cinema, vídeo, teatro, música, pintura, arquitetura e design), Peter Greenaway é hoje, mais que um respeitado diretor de cinema, um dos mais conceituados artistas multimídia. Em seu filme “O Livro de Cabeceira” são abordados questões impactantes como o desejo incestuoso, a necessidade do fetiche na busca do prazer, a bissexualidade, o rompimento com as tradições, a promiscuidade, etc. No entanto, esses temas são abordados de forma tão sutil, são fatos tão normais dentro do enredo, que chega a ser corriqueiros. Greenaway sabe o que faz, ele brinca com o espectador o tempo todo, brinca com os valores sociais de forma tão magistral que propõe alternativas a eles sem colocá-los como errados. Em sua obra, o absurdo é banal e o socialmente reprovável é rotineiro, como na vida real.
Transitando com desenvoltura por todas várias linguagens (cinema, vídeo, teatro, música, pintura, arquitetura e design), Peter Greenaway é hoje, mais que um respeitado diretor de cinema, um dos mais conceituados artistas multimídia. Em seu filme “O Livro de Cabeceira” são abordados questões impactantes como o desejo incestuoso, a necessidade do fetiche na busca do prazer, a bissexualidade, o rompimento com as tradições, a promiscuidade, etc. No entanto, esses temas são abordados de forma tão sutil, são fatos tão normais dentro do enredo, que chega a ser corriqueiros. Greenaway sabe o que faz, ele brinca com o espectador o tempo todo, brinca com os valores sociais de forma tão magistral que propõe alternativas a eles sem colocá-los como errados. Em sua obra, o absurdo é banal e o socialmente reprovável é rotineiro, como na vida real.O contato da caneta – ou do pincel – com o papel, tão sensual quanto o toque entre dois amantes, é o foco do filme do cineasta inglês Peter Greenaway. Livro de Cabeceira (1996) – resgata a arte da caligrafia como símbolo da relação do corpo com o pensamento. O filme conta a história de Nagiko, uma mulher apaixonada pela caligrafia ideográfica oriental, que obtém prazer escrevendo sobre os corpos dos seus amantes. Filha de um calígrafo e escritor japonês de Kyoto, Nagiko aprendeu a amar a caligrafia com o pai, que festejava os aniversários da filha escrevendo versos em seu rosto e em suas costas. Depois de fugir de um casamento precoce e desastroso com o sobrinho do editor do seu pai, torna-se uma bem sucedida top model em Hong Kong, e tenta obter, num mesmo ato, os prazeres proporcionados pelo corpo e pela literatura.
Como no mito bíblico, no princípio era o verbo que, depois, se fez carne. Nagiko escreve sobre o corpo do amante inglês Jerome para que possa lê-lo e amá-lo convenientemente. Esse foi o estratagema inventado pelo próprio Jerome para convencer o editor, que havia se recusado a publicar a obra de Nagiko. Sem a inscrição, nada de sedução, sem a caligrafia, nada de ereção. Antes do pênis, a pena, o pincel, a caneta. Mas um não existe sem o outro, um depende do outro, para escrever, para amar, para escrever como quem ama. Afinal, trata-se de uma mesma energia erótica, compartilhada pelos amantes-escreventes, uma única excitação. O corpo do amante, sua pele, não só serve de suporte, mas transforma-se em página mesmo, em papel, em pergaminho – em livro. Um corpo de amor e de escrita, que porta a escrita do amor, e que, mais além, caminha para se tornar um corpo escrito, circulante, visceral – portanto, erótico. (“O cheiro de papel branco é como o odor da pele de um novo amante”, uma das frases lapidares de Nagiko). Assim é o cinema de Greenaway, a um só tempo, auditivo, visual, gustativo, olfativo e tátil.
Como todos os filmes do diretor de O Bebê Santo de Macon, o refinamento estético é levado à última conseqüência – em O Livro de Cabeceira, Greenaway superpõe imagens na tela e incorpora as legendas em caligrafia caprichada à própria imagem. O filme remonta à tradição milenar de um gênero da literatura erótica japonesa: os livros de cabeceira, diários de gueixas com suas experiências sexuais.
Baseado na vida e obra da escritora japonesa do final do século 10 (Sei Shonagon), retrata rituais de caligrafia no corpo humano. Numa sociedade dominada pelos homens, em que a mulher era considerada integrante de uma classe inferior, Sei ousou escrever um livro explorando as possibilidades do corpo de seu amante. Isso pareceu revolucionário para Greenaway. No filme de Greenaway, a escritora (considerada liberal demais para sua época) é representada como uma top model dos dias atuais. Fascinada pela união corpo-palavra, ela coleciona amantes e impõe rituais de caligrafia em seus relacionamentos. Seus parceiros não são avaliados pelo desempenho sexual, mas sim pela habilidade em registrar textos na carne.
O modo como o cineasta conta essa estória, tão carregada de referências rituais e simbólicas, consegue ser ainda mais original. Pela sua realização plástico-visual onde Greenaway “escreve” cada seqüência do filme com a minúcia e elegância de um calígrafo japonês. Cada superposição de imagens parece “graficamente” elaborada. É o cinema das metáforas visuais. Todos os sentidos no filme de Peter brotam, o tempo inteiro, desse contexto metafórico no qual se pode falar dos prazeres da carne como os da literatura; da pele como papel; do corpo como o livro no qual se inscrevem (se “escreve”) as inquietações mais profundas de nossas almas; dos nossos próprios media (livros, pintura, fotografia, cinema) como “pele da cultura”.
“Quis fazer um filme que unisse o prazer da literatura e o prazer da carne. Só isso”, afirmou Greenaway ao jornalista Wladimir Weltman. “A maioria de meus filmes trata dessa minha ansiedade de combinar imagem e texto. Uma das coisas que sempre me fascinou é a noção de que as letras do alfabeto japonês são caracteres e significado ao mesmo tempo. Elas são imagens e texto, simultaneamente. Podem ser lidas como texto e vistas como imagens. Não seria esse um bom exemplo a seguir na hora de inventar o cinema? Esse foi o ponto de partida – usar essa metáfora oriental, japonesa, para começar o filme. Há muito tempo queria fazer um filme ambientado num espaço japonês”. Para fugir do cinema tradicional, Greenaway prefere surpreender, confundir, intrigar, chocar ou mesmo enfurecer o público – ‘tudo, menos agradar”.
19 junho 2006
Manifestações baianas registradas em livro
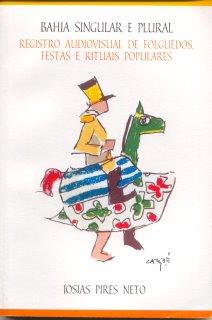
No período de 1997 até 2003 a TV Educativa exibiu a série Bahia Singular e Plural. As cores, danças e músicas das tradições populares da Bahia foram ao ar em rede nacional. Trata-se do maior registro audiovisual já realizado na Bahia, com depoimentos de artistas e especialistas, enfocando manifestações como as burrinhas (animam festas de diferentes regiões), nego fugido (simula a luta pela libertação dos escravos na perspectiva dos negros), ternos e folias de reis (ritualizando a visita dos três reis magos ao menino Jesus), mastros sagrados e profanos (tronco de árvore transformado num mastro que, acompanhado por uma banda de pífanos, é colocado em frente a uma igreja, com uma bandeira que representa o padroeiro do lugar), folguedos de Santa Brígida, caretas e zambiapunga. A série é singular porque é especial e única, tratando o individual e respeitando as particularidades e, ao mesmo tempo, é plural, porque contempla o todo e respeita a diversidade.
Esta série serviu como base para a dissertação de mestrado feita pelo jornalista Josias Pires Neto no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBa. Josias foi o responsável pela direção de 16 dos 18 episódios que foram ao ar. Esse trabalho foi transformado em livro, intitulado Bahia Singular e Plural – Registro audiovisual de folguedos, festas e rituais populares. Dividido em três capítulos de 217 páginas, o trabalho revela a força de uma cultura que não está na mídia.
O primeiro capítulo denominado Caminhos do Imaginário nos Pequenos Mundos da Bahia, aborda cultura popular, folclore e identidade nacional e um novo olhar sobre as culturas populares. Está dividido em três seções. Na primeira mostra a força do imaginário entre nós, na segunda seção verifica-se o modo como parte do imaginário passa a ser caracterizado como folclore, e na terceira introduz-se a reflexão das manifestações nos planos do material e do simbólico e ao seu contexto sócio-cultural.
Já o segundo capítulo, Antecedentes: Idéias na Cabeça e Câmera na mão, o autor fala da produção televisiva regional e identidade visual. Fala dos primeiros documentários, as burrinhas da Bahia - um folguedo com traços característicos, uma vez que está desgarrado da manifestação do bumba-meu-boi. O especial trata dos personagens que participam das festas de reis - entre os dias 1º e 6 de janeiro - e das burrinhas carnavalescas. Ao ser escolhido como o programa de estréia, a coordenação do projeto também presta uma homenagem ao artista plástico Carybé, que criou a marca da série, simbolizada por uma burrinha.
No terceiro e último capítulo, Viagem ao Sertão de Carinhanha registra relatos orais dos mestres e mestras de folguedos, captados pelas câmeras da TVE no município de Carinhanha, cidade do médio São Francisco. São abordados temas como aldeia de caboclos e mitologia das águas, irmandades e folias da bandeira, evocando os santos e do campo à tela
Foram gravados manifestações em 55 municípios, o que representa 15% do estado da Bahia. Esses programas exibidos na TVE e motivo de análise no livro de Josias rendeu também a realização de oito CDs coordenados pelo maestro Fred Dantas. Tem muito mais para se mostrar da Bahia. Vamos aguardar novos episódios da série.
O autor observa que no litoral baixo sul (Valença, Taperoá, Nilo Peçanha, Cairu) existem as manifestações de zambiapunga, enquanto mais ao sul do estado verifica-se uma curiosa disseminação de folguedos em termo da devoção a São Sebastião, que inclui ternos de Reis de São Sebastião, as puxadas de mastro e as embaixadas dramáticas conhecidas das lutas de Cristãos e Mouros ou Corte de Cristãos e Mouros. E as manifestações culturais se espalham em toda a Bahia. Da Bata de Feijão em Serrinha, Terno de Pastorinhas em Conceição do Coité, Dança Piegas em Valente, Lindroamor em Irará. Banda de Pífanos em Uauá, Nego Fugido em Santo Amaro da Purificação, Bacanarteiros em Santa Brígida, Marujada em Paratinga, Traça-fita em Rio de Contas, Chegança cem Cairu, samba de roda da Boa Morte em Cachoeira, Bumba meu boi em Boninal, festa de Chula em Piritiba, toré dos Kiriris em Banzaê, samba coco em Castro Alves, repentistas em Nazaré, cantos de café cem Amargosa e caretas de Praia do Forte em Mata de São João.
O livro de Josias Pires Neto valoriza ainda mais a produção de artistas anônimos, preservando tradições que, por estarem à margem da industria cultural, correm o risco de desaparecer. A série Bahia Singular e Plural ofereceu ao público baiano a possibilidade de redescobrir, por meio de ondas eletrônicas de rádio e tv, a riqueza e a diversidade da cultura popular tradicional espalhada por todo o interior do estado. E agora é publicado em livro.
“Durante os contatos com os mestres dos folguedos, festas e rituais religiosos populares da Bahia, pudemos perceber que essas manifestações culturais contribuem para a formação ética e estética das pessoas envolvidas com a sua produção, ajudando a elevar a auto-estima tanto do brincante como do grupo social no qual ele está inserido, contribuindo com a afirmação de identidades locais e fortalecimento da cidadania”, revelou Josias em sua obra.
14 junho 2006
Freud, fundador da psicanálise
 Quase todo mundo já ouviu falar em Sigmund Freud (1856/1939), psicólogo austríaco, fundador da psicanálise. Agora vamos conhecer um pouco mais do seu estudo. Ao criar a psicanálise, revelando o papel desempenhado pelos elementos do inconsciente psíquico em todos os domínios da atividade humana, exerceu no pensamento moderno uma influência extraordinária. Começou como neurologista e se tornou o pai da psicanálise. Sua contribuição para a sexologia foi ter a coragem de levar o sexo a sério durante um período em que os outros se esquivavam de qualquer pesquisa ou discussão sobre o assunto. Suas idéias estabeleceram a estrutura do pensamento do século XX acerca da mente, da natureza humana, da condição humana e das perspectivas para a felicidade humana.
Quase todo mundo já ouviu falar em Sigmund Freud (1856/1939), psicólogo austríaco, fundador da psicanálise. Agora vamos conhecer um pouco mais do seu estudo. Ao criar a psicanálise, revelando o papel desempenhado pelos elementos do inconsciente psíquico em todos os domínios da atividade humana, exerceu no pensamento moderno uma influência extraordinária. Começou como neurologista e se tornou o pai da psicanálise. Sua contribuição para a sexologia foi ter a coragem de levar o sexo a sério durante um período em que os outros se esquivavam de qualquer pesquisa ou discussão sobre o assunto. Suas idéias estabeleceram a estrutura do pensamento do século XX acerca da mente, da natureza humana, da condição humana e das perspectivas para a felicidade humana.Freud inicia seu pensamento teórico assumindo que não há nenhuma descontinuidade na vida mental. Ele afirmou que nada ocorre ao acaso e muito menos os processos mentais. Há uma causa para cada pensamento, para cada memória revivida, sentimento ou ação. Cada evento mental é causado pela intenção consciente ou inconsciente e é determinado pelos fatos que o precederam. Uma vez que alguns eventos mentais "parecem" ocorrer espontaneamente, Freud começou a procurar e descrever os elos ocultos que ligavam um evento consciente a outro. O ponto de partida dessa investigação é o fato da consciência
O inconsciente, por sua vez, não é apático e inerte, havendo uma vivacidade e imediatismo em seu material. Memórias muito antigas quando liberadas à consciência, podem mostrar que não perderam nada de sua força emocional. Assim sendo, para Freud a maior parte da consciência é inconsciente. Ali estão os principais determinantes da personalidade, as fontes da energia psíquica, as pulsões e os instintos.
Foi a necessidade da luta pela existência, segundo Freud, o determinante na organização da civilização na forma de dominação e de repressão. Foi ela que impôs o controle repressivo dos instintos sexuais, domesticando suas tendências polimorfas anárquicas para a função genital reprodutora, condenando como tabu as “perversões”, onde se esbanjaria a energia sexual: o corpo humano se torna força de trabalho. Para ele a conduta humana é por sua própria natureza baseada em motivos vis, assassinos, incestuosos. Golpeou a tese esclarecida segundo a qual os seres humanos são basicamente bons. A perversão sexual (e pior) estava em toda parte, precariamente reprimida. A infelicidade era inevitável e a causa era a própria civilização.
A teoria freudiana da sexualidade informa que a libido existe em nós desde o nascimento. A partir dela organizam-se as relações entre dois princípios: o do prazer (querer imediatamente algo satisfatório e quere-lo cada vez mais) e o da realidade (compreender e aceitar que nem tudo o que se deseja é possível, e se for possível, nem sempre é imediato). O princípio de realidade é o que nos ensina a tolerar as frustrações. Também da libido nascem dois princípios antagônicos que lutam em nosso inconsciente: Eros (do grego, amor) e Thânatos (do grego, morte), um princípio de vida ou vital e outro de morte, ou mortal. Esses dois princípios tornam o princípio do prazer extremamente ambíguo, pois o prazer não estará necessariamente vinculado a Eros, mas, de modo profundo, a Thânatos.
Os homens vivem perseguindo a felicidade, afirma Freud. E, para isso, devem esquivar-se da dor e sofrimento, e procurar sensações agradáveis. Porém, eles não podem ser felizes. A vida em sociedade obriga-os a reprimir seus instintos de prazer. Para Freud, a repressão e a sublimação dos instintos sexuais corresponde a uma condição necessária para a vida em sociedade. A maior dor que sente um ser humano é nascer. Sair do aconchego e do repouso uterino, separar-se do corpo materno. Thânato é o princípio profundo de desejo de não-separação, de retorno à situação uterina. Por isso é tão potente, mais poderoso do que Eros, que nos força a viver.
A libido se manifesta de formas múltiplas em nossa vida. E Freud classificou as fases da libido, segundo a origem do prazer, as regiões prazerosas do corpo (zona erógenas) e os objetos (escolha de objeto) que são sentidos como os mais prazerosos. A primeira fase é oral: o prazer vem do ato de comer ou sugar, da ingestão de alimentos; as zonas erógenas principais são os lábios e a boca; os objetos escolhidos são os seios e seus substitutos (dedo, chupeta...). A prova de que a fase oral não desaparece para muitos de nós, mas realiza uma fixação, está na existência dos fumantes, dos que gostam de beber, fazer discursos e no chamado sexo oral.
A segunda fase é anal: a fonte do prazer é expelir ou reter as fezes. A fixação dessa fase na vida adulta aparece nos pintores, escultores, nas pessoas generosas, avarentas, e no chamado sexo anal. A terceira e última fase é a fálica ou genital: a origem e o lugar do prazer (as zonas erógenas) são os órgãos genitais, há gosto pela masturbação e é o momento do exibicionismo e da curiosidade infantil. É nessa fase, entre três e quatro anos, que Freud localiza o surgimento do complexo de Édipo – rede intrincada de afetos e fantasias que a criança possui ao perceber que faz parte de uma tríade ou relação triangular constituída por ela, pela mãe e pelo pai.
13 junho 2006
Beijos espalhados no cinema e na música
 Kiss, baccio, beso, baiser, patselui... em qualquer idioma o beijo é uma forma de contato entre pessoas. Na literatura, na música, nas novelas de rádio e tevê, no cinema, nas artes plásticas e nos quadrinhos beijar é fundamental. Beijar é uma arte e Hollywood sempre soube disso. Burt Lancaster e Deborah Kerr rolam na praia em “A Um Passo da Eternidade” (1953), ajudando a desmoralizar o Código Hays, que não comportava esse tipo de exibição da luxúria. Os beijos ardentes de Rhett Butler (Clark Gable) e Scarlett O´Hara (Vivien Leigh) em “E o Vento Levou...” continuam na memória de muitos cinéfilos. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, a impetuosa duplas romântica de “Casablanca” tem quatro seqüências de beijos trocados pelo seu melodramático casal de obstinados.
Kiss, baccio, beso, baiser, patselui... em qualquer idioma o beijo é uma forma de contato entre pessoas. Na literatura, na música, nas novelas de rádio e tevê, no cinema, nas artes plásticas e nos quadrinhos beijar é fundamental. Beijar é uma arte e Hollywood sempre soube disso. Burt Lancaster e Deborah Kerr rolam na praia em “A Um Passo da Eternidade” (1953), ajudando a desmoralizar o Código Hays, que não comportava esse tipo de exibição da luxúria. Os beijos ardentes de Rhett Butler (Clark Gable) e Scarlett O´Hara (Vivien Leigh) em “E o Vento Levou...” continuam na memória de muitos cinéfilos. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, a impetuosa duplas romântica de “Casablanca” tem quatro seqüências de beijos trocados pelo seu melodramático casal de obstinados.Da fantasia do cinema para a realidade da vida, Elizabeth Taylor e Richard Burton selam na cena de “Cleópatra” o adultério que abalou o começo dos anos 60. E Henry Fonda e Katharine Hepbum trocam beijo da terceira idade em “Num Lago Dourado” (1981). Inocentes, ilícito, desesperados, ternos, apaixonados: na história do cinema, como na vida, os beijos sempre foram tudo isso. Representam a comunicação e o amor.
Se todas as manifestações artísticas se apropriam do beijo não seriam o cinema que prescindiria dele. Na verdade, os melhores beijos do cinema são aqueles que trocamos no escurinho da sala de projeção. O grande mérito de Hollywood nessa história foi tornar o beijo público e notório, introduzindo isso no inconsciente coletivo. O primeiro beijo do cinema aconteceu há mais de 100 anos, num curta-metragem, “A Viúva Jones”, de 1896. A sensualidade tórrida da cena vivida por May Irvin e John C. Rice chocou a sociedade americana na época. Não demorou e surgiu a censura. Depois de alguns anos, foram fixados limites “razoáveis” para as cenas “bestiais e indecentes”. Para a moral e os bons costumes, um beijo não deveria ocupar mais de 2,15mm de filme (em torno de três segundos), desde o sorriso até a separação final. É vapt vupt! O beijo mais longo no cinema é de 1940. Durou 185 segundos e foi compartilhado por Jane Wyman e Regis Toomey no filme “You´re in the Army Now”.
Quem lembra do belo “Cinema Paradiso”, de Giuseppe Tornatore, sobre um menino fascinado pela magia do cinema. Antes das sessões ao público, o padre fazia a censura, cortando cenas que ele acha serem desprovidas de pudor. Isso sempre afetou as sessões, pois bem na hora daquele esperado beijo ardente, a cena é cortada para a seguinte, causando um furor entre os espectadores. Foi em uma dessas sessões de corte que o garoto Toto, o coroinha do padre, que sempre freqüentava o cinema escondido dele, conheceu o projecionista do cinema, Alfredo. Assim, começou a amizade entre os dois.
Um beijo é só um beijo: uma das coisas fundamentais da vida. É o que dizia, em 1942, a letra de “As time goes by”, a famosa canção que embalava o romance de Rick (Bogart) e Ilsa (Bergman) no filme “Casablanca”.Na música o rei do rock, Elvis Presley queria ser beijado rápido em “Kiss Me Quick”. Os Beatles encantaram o mundo pedindo “Feche os olhos quando eu te beijo” (All My Loving), enquanto o guitarrista Jimni Hendrix incendiava platéias em delírio e pedia licença para beijar o céu (Purple Haze).
“Besame mucho”, diz a canção argentina. “Beija eu”, canta Marisa Monte. “Ele me deu um beijo na boca”, interpreta Caetano Veloso. Os compositores não se cansam de cantar as maravilhas que o encontro dos lábios provocam.Roberto Carlos, na época da Jovem Guarda, cantou o barulho do sarro que tirava com ela no cinema em “Splish Splash”. De Noel Rosa e Vadico tem a composição “Quanto Beijos”. “Molha tua boca na minha boca/tua boca é meu doce meu sal/mas quem sou eu nessa vida tão louca/mais um palhaço no seu Carnaval”. É o canto de Tom Jobim na trilha sonora de “Gabriela, o filme”.
Prince falava das experiências de um beijo em “Kiss”. Rita Lee chama por um “Doce Vampiro” (“mas nada disso importa/vou abrir a porta/pra você entrar/beija minha boca/até me matar de amor”). Bethânia canta, de Waldir Rocha, “meu Amor quando me beija/sinto o mundo revirar/vejo o céu aqui na terra/e a terra no ar” (“Lábios de Mel”). Caetano Veloso canta o beijo de muitas maneiras. “Em grandes beijos de amor”, em “Alegria, Alegria”; como um presente em “Menino do Rio” (“tome essa canção como um beijo”); e absolutamente político em “Ele me deu um Beijo na Boca”: “Era um momento sem medo e sem desejo/ele me deu um beijo na boca/e eu correspondi àquele beijo”.
Marina Lima canta “Naturalmente ele me beija/e me põe literalmente louca/sob o sol, ah! E esse brilho no teu dorso/suor, cristal, gotas no seu rosto/fogo e sal nas curvas do teu corpo/é demais” (“Literalmente Louca”). “Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar, beijo na boca, seu corpo no meu, suado, tem sabor de pecado, com jeito de bem-me-quer” é a letra de “Beijo na Boca” de João Guimarães e George Dias para o carnaval baiano. Existem outros beijos espalhados pela música como “Beijo Partido” (Milton Nascimento), “Nos Beijamos Demais” (Marina), “Lábios que Beijei” (Orlando Silva), “Aquele Beijo que te dei” (Roberto Carlos), “Eu Também Quero Beijar” (Pepeu Gomes), “Beijo Exagerado” (Mutantes), “Beijo Moreno” (Raimundo Sodré) e muitos outros. Todos resgatam emoção e o sabor de um momento único.
12 junho 2006
Ninguém perde a chance de beijar

O beijo é um dos grandes prazeres da vida e ninguém perde a chance de beijar. Cada pessoa gosta de um tipo de carinho, mas uma coisa é certa: todo mundo gosta de beijo. Tocar com os lábios alguém, às vezes fazendo uma leve sucção, é o que chamam de beijo, essa é sua manifestação mais singela. Existem muitas variações sobre esse tema. Ingênuas, castas, libidinosas, sensuais, atrevidas, pouco importa. O importante é beijar, e nada como um beijo após o outro.
Para uns encurta a vida, outros acham que a prolonga. A verdade, segundo a pesquisadora francesa Martine Mourier, num beijo são acionados 17 músculos. E caso o beijo traga a volúpia da paixão, esse número sobe para 29, transmitindo 250 bactérias, nove miligramas de água, sete decigramas de albumina e mais uma gota de sais minerais, isso sem falar que os batimentos cardíacos podem duplicar de 75 para 150 pulsações por minuto. Para muitas sexólogas, a qualidade do beijo é fundamental para o sucesso de uma relação amorosa. As mulheres escolhem um bom parceiro sexual pela boca, pelo beijo. Pode-se contrair caxumba, tuberculose, herpes, sífilis, além de um duradouro caso de amor. Foi com um beijo que o príncipe fez viver Bela Adormecida. Walt Disney levou o beijo deles para o cinema e os dois estão em cartaz pelo menos há 60 anos, felizes para sempre.
Segundo o antropólogo inglês Desmond Morris, a origem do beijo estaria na amamentação e no hábito – encontrado ainda hoje em algumas tribos selvagens – de passar o alimento sólido, amolecido da boca da mãe para a do filho. Ao longo do tempo, o beijo ganhou muitos sentidos. Beijar é basicamente um ato de reafirmação na vida, na felicidade, é um símbolo de vitória. Mas, nem sempre é assim. Judas traiu Cristo com um beijo. Quando um mafioso beija outro é sinal de condenação. Beijo na lona é sinônimo de nocaute. E um beijo de língua pode iniciar uma relação em cadeia capaz de fazer explodir o mais doce e tímido dos amantes.
O beijo erótico, profundo, e suas carícias de língua, como conhecemos hoje, é fenômeno mais recente. Na Grécia Antiga, era dado aos escravos o direito de beijar o solo. À medida que ocupasse postos superiores na hierarquia social, podiam beijar joelhos, mão e peitos dos respectivos senhores. Hoje, tudo acontece ao contrário. O papa beija o solo de todos os países que visita e os cardeais beijam os pés dos mendigos. Uma das primeiras representações artísticas do beijo está nas esculturas e murais do templo de Khajuraho, na Índia, feitos há 4.500 anos. É também na Índia o mais completo tratado sexual do Oriente, Kama Sutra, do século IV, que dedica todo um capítulo à arte de beijar. No puritano cinema indiano, porém, é tudo diferente: o beijo só foi aparecer, tímido, no filme “A Casa e o Mundo”, de 1984, de Satyajit Ray.
Os esquimós se beijam com a ponta do nariz, numa forma de cumprimento. O olfato, nesses beijos, vale mais que o paladar, e os olhos bem abertos são uma preocupação indispensável para quem mora numa região tão inóspita. Para os povos primitivos, o beijo na face é justamente para conhecer o odor do outro. Pelo cheiro, identifica-se a tribo (inimiga ou não) do indivíduo. Pelas mesmas razões, os mongóis esfregam o nariz na testa ou no queixo do rosto alheio. Os japoneses também não têm o boca-a-boca entre os principais esportes da ilha. Quando a famosa escultura de Rodin, O Beijo foi exposta num museu de Tóquio, foi logo coberta para evitar escândalo.
Para os chineses, o pudor extremo se relaciona com o beijo na boca, considerado como fazendo parte do ato sexual e, portanto, impensável em público. Esta concepção do beijo deu origem a um longo mal-entendido. Ao chegarem à China os ocidentais concluíram falsamente que os chineses nunca se beijavam. Por sua vez os chineses, vendo as ocidentais beijarem homens em público, acharam que todas aquelas mulheres eram prostitutas.
Os russos se beijam na boca. Isso é expressão de poder, fé e cultura. Existem outros povos, no entanto,m que não beijam. Entre eles, andamanenses, vietnamistas, somalinos, cewas, serionos e os habitantes de Okinawa. Na Abissínia, atual Etiópia, os homens beijam o chão que a amada pisa. Os muçulmanos beijam a própria mão antes de tocar a testa da mulher. Na Ásia e em algumas tribos negras, o beijo consiste em cócegas na orelha direita. Antigamente, assim como outras práticas amorosas, o beijo foi muito censurado, e muitos casais mais avançados foram até presos por se beijarem em público. Hoje, as coisas mudaram e já se beija nas ruas, nas praças, nas praias em plena luz do dia.
O beijo geralmente é o termômetro do jogo amoroso, dependendo dele as coisas podem tomar um rumo ou outro. É muito difícil de saber o tipo de beijo ideal. Cada pessoa tem suas preferências particulares. Beijo é como impressão digital, cada um tem o seu.Uns gostam de beijos melados, outros, de beijos lambidos, outros mordiscados. Há os que preferem longos beijos cinematográficos e os que gostam de beijos curtos e breves. Há pessoas que adoram beijos roubados (os escondidos), outras, beijo impetuoso, beijo compromisso (beijou casou), beijo perigoso (com sabor de crime), beijo canibal (aquele que deixa marcas), o profundo (com intervenção da língua), o escandaloso (conforme padrão de cada época), apaixonado (de fechar os olhos e ver estrelas), além do beijo de cada país. No beijo à brasileira, nessa arte somos especialistas e temos uma série de tipos que vocês mesmo podem relembrar à vontade.
09 junho 2006
Música e poesia
Flor da Idade (Chico Buarque de Holanda)
A gente faz hora, faz fila na vila do meio dia
Pra ver Maria
A gente almoça e só se coça e se roça e só se vicia
A porta dela não tem tramela
A janela é sem gelosia
Nem desconfia
Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor
Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família
A armadilha
A mesa posta de peixe, deixe um cheirinho da sua filha
Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha
Que maravilha
Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor
Vê passar ela, como dança, balança, avança e recua
A gente sua
A roupa suja da cuja se lava no meio da rua
Despudorada, dada, à danada agrada andar seminua
E continua
Ai, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor
Carlos amava Dora que amava Lia que amava Léa que amava Paulo
Que amava Juca que amava Dora que amava Carlos que amava Dora
Que amava Rita que amava Dito que amava Rita que amava Dito que amava Rita que amava
Carlos amava Dora que amava Pedro que amava tanto que amava
a filha que amava Carlos que amava Dora que amava toda a quadrilha
À flor da língua (Geraldo Carneiro)
uma palavra não é uma flor
uma flor é seu perfume e seu emblema
o signo convertido em coisa-íman
imanência em flor: inflorescência
uma flor é uma flor
(de onde talvez decorra
o prestígio poético das flores
com seus latins latifoliados
na boca do botânico amador)
a palavra, não: é só florilégio
ficção pura,crime contra a natura
por exemplo, a palavra amor
A gente faz hora, faz fila na vila do meio dia
Pra ver Maria
A gente almoça e só se coça e se roça e só se vicia
A porta dela não tem tramela
A janela é sem gelosia
Nem desconfia
Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor
Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família
A armadilha
A mesa posta de peixe, deixe um cheirinho da sua filha
Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha
Que maravilha
Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor
Vê passar ela, como dança, balança, avança e recua
A gente sua
A roupa suja da cuja se lava no meio da rua
Despudorada, dada, à danada agrada andar seminua
E continua
Ai, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor
Carlos amava Dora que amava Lia que amava Léa que amava Paulo
Que amava Juca que amava Dora que amava Carlos que amava Dora
Que amava Rita que amava Dito que amava Rita que amava Dito que amava Rita que amava
Carlos amava Dora que amava Pedro que amava tanto que amava
a filha que amava Carlos que amava Dora que amava toda a quadrilha
À flor da língua (Geraldo Carneiro)
uma palavra não é uma flor
uma flor é seu perfume e seu emblema
o signo convertido em coisa-íman
imanência em flor: inflorescência
uma flor é uma flor
(de onde talvez decorra
o prestígio poético das flores
com seus latins latifoliados
na boca do botânico amador)
a palavra, não: é só florilégio
ficção pura,crime contra a natura
por exemplo, a palavra amor
08 junho 2006
Adroaldo Ribeiro Costa
 Teatrólogo, escritor, compositor, professor e jornalista. Adroaldo Ribeiro Costa nasceu em Salvador no dia 13 de abril de 1917. Viveu a infância, a adolescência, a juventude e parte da mocidade em Santo Amaro da Purificação, por isso era considerado por muitos, santamarense. Fez os cursos primário e ginasial em Santo Amaro. Diplomado em Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Bahia, começou o exercício da advocacia. Muito cedo, todavia, o magistério o absorveu. Promovia, com os alunos, atividades literárias, artísticas e esportivas, no Ginásio Santamarense, enquanto ensaiava seus primeiros passos jornalísticos nos jornais locais. Transferindo residência para sua cidade natal, Adroaldo ampliou e aprofundou essas atividades. Depois de lecionar em vários estabelecimentos particulares, ingressou no magistério oficial, tendo dirigido grandes colégios como o João Florêncio Gomes e o Instituto Central de Educação Isaías Alves, além do Serviço Estadual de Assistência a Menores.
Teatrólogo, escritor, compositor, professor e jornalista. Adroaldo Ribeiro Costa nasceu em Salvador no dia 13 de abril de 1917. Viveu a infância, a adolescência, a juventude e parte da mocidade em Santo Amaro da Purificação, por isso era considerado por muitos, santamarense. Fez os cursos primário e ginasial em Santo Amaro. Diplomado em Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Bahia, começou o exercício da advocacia. Muito cedo, todavia, o magistério o absorveu. Promovia, com os alunos, atividades literárias, artísticas e esportivas, no Ginásio Santamarense, enquanto ensaiava seus primeiros passos jornalísticos nos jornais locais. Transferindo residência para sua cidade natal, Adroaldo ampliou e aprofundou essas atividades. Depois de lecionar em vários estabelecimentos particulares, ingressou no magistério oficial, tendo dirigido grandes colégios como o João Florêncio Gomes e o Instituto Central de Educação Isaías Alves, além do Serviço Estadual de Assistência a Menores.Ainda menino, Adroaldo gostava de teatro, rádio e, sua primeira iniciativa, aconteceu em Santo Amaro da Purificação. Professor no Maristas e na escola Reminghton, lecionava História na Faculdade de Ciências Econômicas. Foi então convidado pelo general Renato Onofre Aleixo, então interventor da Bahia, para ocupar o setor de rádio-teatro da Rádio Sociedade da Bahia. Ele se propõe a realizar quatro programas: um para as crianças, outro para a juventude, o terceiro para os universitários e o último para professores. Foi ao ar aquele dedicado às crianças, com o estímulo do secretario de Educação, Aristides Novis. A Hora da Criança foi criada como um programa de rádio a 25 de julho de 1943 e era levado ao ar com a participação das próprias crianças e com o som do maestro Agenor Gomes. A importância da Hora da Criança pode ser medida pelos nomes que por lá passaram em menino, hoje exercendo as mais diversas atividades em todos os campos da sociedade local. O compositor Gilberto Gil (o Beto, tocador de sanfona nas quadrilhas de São João), as primeiras integrantes do Quarteto em Cy (Cyva, Cybele, Cylene e Cynara), os cineastas Glauber Rocha e Paulo Gil Soares, o artista plástico Ângelo Andrade, o professor Carlos Petrovich, Iêda Olivaes, Remy de Souza, Nair Lauria, Josélia Almeida, o artista plástico Juarez Paraíso e Lúcia Spinelli, o economista Jairo Simões, a escritora Bárbara Vasconcelos, o publicitário Fernando Passos, o poeta Fred Souza Castro e muitos outros. Em 1953, a Hora da Criança foi transformada em sociedade civil.
No dia 22 de dezembro de 1947, Adroaldo inaugurava o Teatro Infantil Brasileiro, com a encenação da opereta Narizinho, no Teatro Guarani, espetáculo assistido pelo próprio Monteiro Lobato. No campo do teatro apresentou peças que atraíam caravanas de vários pontos do país, como Infância, Enquanto nós Cantarmos, Monetinho (a última peça, representada em 1975, no TCA, tratava do abandono da criança no próprio lar), Timidi, Nossa Árvore Querida, entre outras. Durante 20 anos, editou o tablóide A Tarde Infantil - começou em 1955 -, apresentou duas séries de programas na TV Itapoan, organizou o I Salão Infantil Baiano de Artes Plásticas, gravou três elepês - os 20 Anos da Hora da Criança, Navio Negreiro e Hora de Cantar.
Além de teatrólogo, escritor, professor, Adroaldo Ribeiro Costa era jornalista por vocação e durante longos anos ocupou o posto de editorialista do jornal A Tarde, sempre com equilíbrio, muita inteligência e bravura no emitir opinião e sustentá-las em quaisquer circunstâncias. Era o que se pode chamar um jornalista nato. Foi, durante 30 anos, o cronista que publicou diariamente sua Conversa de Esquina. Fez parte da diretoria da ABI no período de 1978/84 e diretor da Casa de Ruy Barbosa de 1976/78. Começou a assinar uma crônica diária, a princípio sob o título de Conversa de Esquina. Em 1968 ele reuniu 50 crônicas e lançou no livro Conversas de Esquina (pela Editora Itapuã), em seguida publicou Oração à Juventude e em 1982, Igarapé- História de uma Teimosia, narrando seu trabalho junto à criança. Escrevia crônicas para o jornal O Imparcial com o pseudônimo de Drodoala. Profundamente ligado à Santo Amaro da Purificação, da sua Câmara de Vereadores recebeu, em 1983, o título de cidadão da cidade.
Compositor primoroso, contam-se às dezenas os seus trabalhos, letras e melodias como Valsa da Chuva, Cantiga do Verão, Totozinho, Sonho de Bruxa, entre outras, além do resgate de uma infinidade de cantigas de roda, mantidas intactas em seus estribilhos e com adaptações em versos e desenhos musicais que criou, em perfeito casamento. Fundou, com a professora Denise Tavares, a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Foi professor e diretor do então Instituto Normal da Bahia, hoje ICEIA, em cujo palco suas peças eram encenadas, dirigiu a Fundação de Amparo aos Menores da Bahia, membro do Conselho de Cultura do Estado, foi agraciado nos anos 80 pela Secretaria de Educação e Cultura com a medalha Barão de Macaúbas, destinada àqueles que têm grandes serviços prestados à causa de educação e da cultura. Compôs o Hino do Esporte Clube Bahia, era um animador do esporte amador.
Durante 35 anos, o programa Hora da Criança foi escutado por milhares de pessoas da capital e do interior do estado. Paralelo ao sucesso radiofônico, o projeto educacional infantil se abalizava no teatro, dança, música e artes plásticas. O último programa de rádio foi transmitido aos baianos pela Rádio Cultura, em 1978. A notícia da morte do professor Adroaldo Ribeiro Costa provocou profunda consternação na cidade. Ele faleceu no dia 27 de fevereiro de 1984 e foi sepultado no Campo Santo. Adroaldo caracterizou sua atuação na imprensa, no teatro, na música, no esporte, na história, nas letras e na intransigente defesa do nosso patrimônio com irrepreensível honestidade, aliado a este predicado a bondade, o espírito público e o notável bom senso.
07 junho 2006
Bataille e seu desejo de transgressão
 Homenageado nos anos 60, em plena revolução sexual, como um de nossos grandes transgressores, o ex-seminarista, alimentado pelo cristianismo e pelo que ele mesmo chama de “a fé de sua juventude”, George Bataille (1897/1962) foi tomado pela idéia de que a existência do proibido e sua transgressão fundamentam o próprio desejo. Apologista da transgressão e do prazer, Bataille viu com acuidade a perturbadora ligação entre desejo e violência. Ele está convencido de que o desejo comporta uma dimensão trágica. Ele expressa o verdadeiro pavor que lhe inspira o total desaparecimento das proibições, e que, simultaneamente, promove a transgressão. E ele próprio cultiva a provocação, além de seguidas homenagens a Sade ou a Nietzsche, encontremos em seus escritos temas diretamente herdados do cristianismo com o qual ele crê estar rompendo. Para Bataille, o prazer tem parte com esta animalidade odiosa que ele desperta em nós.
Homenageado nos anos 60, em plena revolução sexual, como um de nossos grandes transgressores, o ex-seminarista, alimentado pelo cristianismo e pelo que ele mesmo chama de “a fé de sua juventude”, George Bataille (1897/1962) foi tomado pela idéia de que a existência do proibido e sua transgressão fundamentam o próprio desejo. Apologista da transgressão e do prazer, Bataille viu com acuidade a perturbadora ligação entre desejo e violência. Ele está convencido de que o desejo comporta uma dimensão trágica. Ele expressa o verdadeiro pavor que lhe inspira o total desaparecimento das proibições, e que, simultaneamente, promove a transgressão. E ele próprio cultiva a provocação, além de seguidas homenagens a Sade ou a Nietzsche, encontremos em seus escritos temas diretamente herdados do cristianismo com o qual ele crê estar rompendo. Para Bataille, o prazer tem parte com esta animalidade odiosa que ele desperta em nós.“É o que mais violentamente nos revolta em nós”. Em sua obra A História do Erotismo, evoca reflexo que, no momento mesmo do prazer, nos leva a pronunciar palavras “obscenas” como que para “gritar o segredo descoberto”. Para ele, o interdito sexual expressa uma recusa do homem, a recusa de ceder ao imenso e prolífico desperdício da natureza, que recicla incansavelmente a morte para dele extrair vida.
Fundou o Colégio de Sociologia e desenvolveu uma filosofia baseada numa crença na destruição sagrada e no excesso – um niilismo místico próximo ao culto de Dionísio, de Nietzche. O pensamento e a obra de Bataille o conduziram à violência erótica e ao sacrifício humano, e o aproximaram da desordem e destruição que via em Hitler e Stalin. Hoje em dia, Bataille poderá ser mais conhecido nos círculos intelectuais por haver proposto uma teoria elaborada da transgressão.
Em seu livro “O Erotismo” definiu o erotismo como a presença da vida dentro da morte e a presença da morte dentro da vida. Para Bataille, existem na natureza duas forças. Uma que tende ao individualismo, e o indivíduo quer sobreviver. A outra que tende à fusão e, dessa maneira, à decomposição do indivíduo, à sua morte. Esta segunda força é a violência. No erotismo as duas operam. O indivíduo quer permanecer ele mesmo e, todavia, fundir-se com outro. Mas no mais profundo do ser a fusão permanece como destruição, violência, morte. Sade não fez outra coisa – na opinião de Bataille – que exasperar este pólo dialético do erotismo. O erotismo é sempre, portanto, transgressão, violência, profanação, vontade de anular-se e de anular.
Estudioso de religiões orientais, experiências místicas e práticas estáticas e sacrificiais, Bataille nos leva a descobrir que “entre todos os problemas, o erotismo é o mais geral, o mais a distância”. Mostrando os efeitos de transgredir as interdições impostas milenariamente por estes elementos desordenadores, ele dá ao erotismo e a violência uma dimensão religiosa, onde explora os meios para se atingir uma experiência mística “sem Deus”: “um homem que ignora o erotismo é tão estranho quanto um homem sem experiência interior”.
A linguagem crua e, literalmente, nua, de livros como Historia do Olho, Madame Eduarda, O Azul do Céu – é preciso reconhecer – era forte e intensa o suficiente para que muitos achassem que ele só escrevia sobre aquilo. Porém, sua biografia está recheada de crises religiosas, que chegaram a levá-lo a morar entre os monges beneditinos da ilha de Wright, após ter sonhado em virar padre. Ao lançar a revista acéfala, cujo nome expressava um de seus temas favoritos – o perder a cabeça e, com ela, todos os freios que podiam separá-lo de uma vida e obra dedicadas, de forma absoluta, ao desregramento, no seu sentido real, sem moralismos, da falta total de regras.
Ao isolar-se da razão, Bataille não apenas caiu na gandaia (o que fazia, sem dúvida, pois a experiência era fundamental), mas, nesse movimento de negação radical do racional, aproximava-se de algo próximo ao estado místico. Era o êxtase “pouco católico” de figuras como Teresa de Ávila, unindo erotismo, morte, poesia e um sagrado que ele traduzia como tudo aquilo que era intocável e proibido, seja na eleva;ao espiritual, seja no qual o ser tinha de mais baixo. Afinal, como aprendera com Nietzsche, se Deus estava ausente, sem Ele, os limites desapareciam por completo.
Isso convidava ao excesso e à busca de transgressão constante, em todos os campos literários (que ele, aliás, experimentou). Hoje, passados mais de cem anos de seu nascimento, sua presença pode ser encontrada em vários meios, sob as suas diferentes formas. Seu pensamento alimenta Michel Aglietta, André Orléan e Jacques Ataillé, importantes referências em questões monetárias na Europa Contemporânea. Jean Baudrillard impera-se diretamente no texto batailliano assim como Deleuze – Guattari, entre outros. Ao reconhecer o excesso encarnado no desejo de transgredir o mito no campo simbólico, Bataille contribuiu para uma geração de intelectuais projetarem da economia à psicanálise uma tonalidade impregnada de culturalismo que não cessa de mostrar-se como alternativa original e criativa de compreender nosso mundo.
06 junho 2006
Código moral da sociedade
A maioria das sociedades precisou de alguma forma de código moral como base para a vida em comunidade e, portanto, a criou. Talvez nem todos concordem com as regras escolhidas ou as considerem particularmente morais, mas um padrão de controle comportamental parece sempre surgir, mesmo se em certas ocasiões em nível aparentemente mais baixo que em outras.
A história demonstra que definições de hábitos de bem e mal têm sido substancialmente diferentes em diferentes situações, mas em cada exemplo pressionou-se o indivíduo a seguir a ética do seu povo, embora essa ética pudesse ser comparada a outras moralidades de aceitação mais geral. “O homem – disse R.S.Peters -, é um animal que segue regras”. Contudo, as regras mudam de acordo com as pressões, ambições e idéias dos que as inventam, os quais precisam persuadir os demais a segui-las, daí a máxima de C.L.Stevenson: “Moralidade é persuasão”. E a persuasão se torna mais fácil porque a maioria das pessoas não quer raciocinar a respeito dela. A verdadeira liberdade para tomar decisões é um doloroso fardo, como observaram Bérgson, Jean-Paul Sartre e os existencialistas. Códigos de uma moralidade já pronta e empacotada, que remove esse incômodo, são, pois, convenientes, desejáveis, úteis.
Um código moral é um sistema de padrões éticos pelos quais uma dada sociedade controla o comportamento de seus membros, motivando-os para que atinjam os objetivos dela. É um processo de controle psicológico de grupo que geralmente proporciona uma estrutura bem mais ampla de manipulação do que a corporificada apenas no código legal dessa sociedade. Em tal sociedade, quem se rebelar contra o código será considerado uma pessoa imoral, mesmo que mais tarde pesquisadores julguem que o rebelde estava certo e a sociedade, errada.
A partir do século IV, a Igreja Católica começou a pensar em termos de heresia e, portanto de tortura como meio de purgação. O começo da Idade Média foi o período de experiência da provação. O século XVII foi a era da humilhação pública, da cadeira de tortura, do tronco e do ferro em brasa. O século XVIII foi do açoite e o XIX das maldosas variantes do aprisionamento, do desterro, dos trabalhos forçados, das casas de correção e campos de concentração. Os códigos morais são produtos de seus ambientes, resultado de uma mistura de pressões econômicas, psicológicas e políticos. O catolicismo do século XIV produziu uma moralidade que incentivava a queimar na fogueira os membros não-ortodoxos de sua própria fé.
Em seu livro sobre “A Assustadora História da Maldade”, Oliver Thomson traz uma profunda compreensão das complexas relações entre as crenças de uma sociedade e seu comportamento. A idéia dominante e provocativa do autor é que a moralidade está sujeita aos costumes e aos caprichos dos ricos e poderosos, como em qualquer outro aspecto da vida humana. Para a maioria de nós, todo código ético propõe a virtude e condena o mal. Entretanto, muitos crimes foram e são cometidos em nome do que se supõe ser a virtude, caminho para o poder ou o prestígio, em todos os períodos históricos. O genocídio fez parte da ética fascista, o infanticídio, de espartana. Os jesuítas praticavam a tortura, os puritanos queimavam as bruxas, os membros do IRA e do ETA crêem na validade do assassinato. O que faz com que o conceito do bem (e, portanto, o do mal) mude conforme a época, o povo e o contexto sócio econômico?
Toda época é escrava de suas convenções. Em todos os tempos, e em todas as latitudes, uma tenaz resistência às pressões da norma percorreu as margens. A norma sempre esteve presente, mas a transgressão também. A memória das sociedades e seu imaginário atestam a permanência de uma contracultura sexual e de uma resistência libertina. De século em século, prosseguiu assim uma história amorosa paralela. A dialética reinventada entre a proibição e a transgressão surgiu a idéia de um equilíbrio social indefinível que seria permanentemente buscado e seguidamente rompido.
Das civilizações egípcia e mesopotâmica à idade moderna, passando pela cidade greco romana, pelos princípios do cristianismo, da Idade Média e do Iluminismo, seria possível reconstituir todo o nosso passado por meio de uma história da literatura licenciosa e da transgressão artística. Não há um século, uma época, ou uma arte que não tenha seu “inferno” ricamente dotado. Nele se encontra, sob formas infinitamente variadas, uma mesma ciência do interdito, uma mesma forma de designar tudo desafiando-o. Clandestina ou não, esta cultura erótica é como uma placa fotográfica hipersensível, um negativo da cultura oficial cujos avatares, conseqüências e momentos de crise ela registra a contrário.
Todos os períodos da História abrigaram seus próprios dissidentes. Sociedade alguma jamais foi inteiramente normalizada, mesmo tendo cada uma estabelecido suas normas. Houve agnósticos em plena Idade Média cristã, libertinos no século 19, pornocratas na Inglaterra calvinista, despreocupados pacifistas às vésperas da Grande Guerra, puritanos declarados em maio de 68, etc. As grandes evoluções da moral sexual nunca envolveram a coletividade como um todo. Elas tiveram apenas uma significação majoritária, global, antropológica. Ficar de acordo com os valores dominantes em seu tempo ou se confrontar com eles, aceitar o peso do holismo ou oferecer-lhe resistência, esta margem permanece sempre em aberto. E remete cada homem a sua irredutível liberdade. A pressão coletiva é sempre poderosa, mas nunca o é de forma absoluta.
A história demonstra que definições de hábitos de bem e mal têm sido substancialmente diferentes em diferentes situações, mas em cada exemplo pressionou-se o indivíduo a seguir a ética do seu povo, embora essa ética pudesse ser comparada a outras moralidades de aceitação mais geral. “O homem – disse R.S.Peters -, é um animal que segue regras”. Contudo, as regras mudam de acordo com as pressões, ambições e idéias dos que as inventam, os quais precisam persuadir os demais a segui-las, daí a máxima de C.L.Stevenson: “Moralidade é persuasão”. E a persuasão se torna mais fácil porque a maioria das pessoas não quer raciocinar a respeito dela. A verdadeira liberdade para tomar decisões é um doloroso fardo, como observaram Bérgson, Jean-Paul Sartre e os existencialistas. Códigos de uma moralidade já pronta e empacotada, que remove esse incômodo, são, pois, convenientes, desejáveis, úteis.
Um código moral é um sistema de padrões éticos pelos quais uma dada sociedade controla o comportamento de seus membros, motivando-os para que atinjam os objetivos dela. É um processo de controle psicológico de grupo que geralmente proporciona uma estrutura bem mais ampla de manipulação do que a corporificada apenas no código legal dessa sociedade. Em tal sociedade, quem se rebelar contra o código será considerado uma pessoa imoral, mesmo que mais tarde pesquisadores julguem que o rebelde estava certo e a sociedade, errada.
A partir do século IV, a Igreja Católica começou a pensar em termos de heresia e, portanto de tortura como meio de purgação. O começo da Idade Média foi o período de experiência da provação. O século XVII foi a era da humilhação pública, da cadeira de tortura, do tronco e do ferro em brasa. O século XVIII foi do açoite e o XIX das maldosas variantes do aprisionamento, do desterro, dos trabalhos forçados, das casas de correção e campos de concentração. Os códigos morais são produtos de seus ambientes, resultado de uma mistura de pressões econômicas, psicológicas e políticos. O catolicismo do século XIV produziu uma moralidade que incentivava a queimar na fogueira os membros não-ortodoxos de sua própria fé.
Em seu livro sobre “A Assustadora História da Maldade”, Oliver Thomson traz uma profunda compreensão das complexas relações entre as crenças de uma sociedade e seu comportamento. A idéia dominante e provocativa do autor é que a moralidade está sujeita aos costumes e aos caprichos dos ricos e poderosos, como em qualquer outro aspecto da vida humana. Para a maioria de nós, todo código ético propõe a virtude e condena o mal. Entretanto, muitos crimes foram e são cometidos em nome do que se supõe ser a virtude, caminho para o poder ou o prestígio, em todos os períodos históricos. O genocídio fez parte da ética fascista, o infanticídio, de espartana. Os jesuítas praticavam a tortura, os puritanos queimavam as bruxas, os membros do IRA e do ETA crêem na validade do assassinato. O que faz com que o conceito do bem (e, portanto, o do mal) mude conforme a época, o povo e o contexto sócio econômico?
Toda época é escrava de suas convenções. Em todos os tempos, e em todas as latitudes, uma tenaz resistência às pressões da norma percorreu as margens. A norma sempre esteve presente, mas a transgressão também. A memória das sociedades e seu imaginário atestam a permanência de uma contracultura sexual e de uma resistência libertina. De século em século, prosseguiu assim uma história amorosa paralela. A dialética reinventada entre a proibição e a transgressão surgiu a idéia de um equilíbrio social indefinível que seria permanentemente buscado e seguidamente rompido.
Das civilizações egípcia e mesopotâmica à idade moderna, passando pela cidade greco romana, pelos princípios do cristianismo, da Idade Média e do Iluminismo, seria possível reconstituir todo o nosso passado por meio de uma história da literatura licenciosa e da transgressão artística. Não há um século, uma época, ou uma arte que não tenha seu “inferno” ricamente dotado. Nele se encontra, sob formas infinitamente variadas, uma mesma ciência do interdito, uma mesma forma de designar tudo desafiando-o. Clandestina ou não, esta cultura erótica é como uma placa fotográfica hipersensível, um negativo da cultura oficial cujos avatares, conseqüências e momentos de crise ela registra a contrário.
Todos os períodos da História abrigaram seus próprios dissidentes. Sociedade alguma jamais foi inteiramente normalizada, mesmo tendo cada uma estabelecido suas normas. Houve agnósticos em plena Idade Média cristã, libertinos no século 19, pornocratas na Inglaterra calvinista, despreocupados pacifistas às vésperas da Grande Guerra, puritanos declarados em maio de 68, etc. As grandes evoluções da moral sexual nunca envolveram a coletividade como um todo. Elas tiveram apenas uma significação majoritária, global, antropológica. Ficar de acordo com os valores dominantes em seu tempo ou se confrontar com eles, aceitar o peso do holismo ou oferecer-lhe resistência, esta margem permanece sempre em aberto. E remete cada homem a sua irredutível liberdade. A pressão coletiva é sempre poderosa, mas nunca o é de forma absoluta.
05 junho 2006
A preocupação número 1 é a corrupção
Os principais problemas do Brasil são corrupção, desemprego e violência. A corrupção é o problema número 1 para 38% dos brasileiros no ranking das preocupações, seguida por desemprego (17%) e violência (15%). Até 1995, o ranking era liderado pelos problemas econômicos na pesquisa Listening Post, iniciativa da Ogilvy Brasil, feita entre agosto e setembro passado. A corrupção preocupa mais as classes mais abastada (46% das citações nas classes A e B e 43% na classe C) e incomoda mais as mulheres (47%) do que os homens (37%) . Mas preocupação não quer dizer ação e conduta pessoal nada tem a ver com o pensamento coletivo. Por isso, a pesquisa conclui que o brasileiro pensa no coletivo, mas age no individual. Nada menos do que 72% dos entrevistados acham que quem faz “a coisa certa” nem sempre é recompensado e 78% acham que as pessoas são mais reconhecidas pelos bens materiais que possuem.
“É preciso modificar o pensamento individualista que predomina na gestão pública e é enraizado desde cedo nas pessoas”, afirmou o promotor de justiça e professor universitário Roberto Livianu, da USP. Ele recomenda uma educação voltada para a cidadania, que faça as pessoas se perceberem como parte de um coletivo, como forma de combater a corrupção. O promotor pesquisou o assunto em sua tese de doutorado para a Faculdade de Direito desde as origens da cultura da corrupção no período colonial, onde as capitanias hereditárias e sesmarias eram usadas como instrumentos políticos e em benefício das pessoas pelo rei para administrá-las até os dias atuais.
A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou em dezembro passado a campanha mundial Corrupção: Você Pode Detê-la. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção entra em vigor no dia 14 de dezembro. Adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em outubro de 2003, a Convenção já foi adotada por 140 países e ratificada por 38. O Brasil é signatário da Convenção e ratificou o documento em junho do ano passado. O documento é o primeiro instrumento legal e global desenvolvido para ajudar as Nações-Membro a combater a corrupção nos setores público e privado.
"As riquezas dos países são saqueadas por líderes corruptos, enquanto que no mundo corporativo muitos acionistas são roubados por executivos corruptos. A Convenção demonstra que a comunidade internacional não tolera mais práticas corruptas novas e antigas, locais ou globais", afirma Antonio Maria Costa, diretor executivo do UNODC, entidade da ONU responsável pela implementação da Convenção em todo o mundo. "A Convenção proporciona as ferramentas legais que os países precisam para enfrentar a corrupção e transformar suas economias", acrescentou Costa.
Em 2005 a campanha anual anticorrupção do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes (UNODC), "Corrupção: Você pode detê-la", tem por intuito aumentar a conscientização do público em geral sobre as diferentes formas de corrupção e seu longo alcance. Assim cada indivíduo pode se envolver ativamente no combate a práticas tão desonestas. Ditados populares que definem o suborno e troca de favores como "Caixa 2", "o jeitinho brasileiro", "una mano lava l´altra" (em italiano "uma mão lava a outra"), "you scratch my back and I'll scratch yours" (em inglês "você coça minhas costas que eu coço a sua"), "coima" e "pot de vin" (suborno em Espanhol e Francês) confirmam o alcance global da corrupção.
Sempre quando os pais pagam taxas ilegais aos professores para dar mais atenção a seus filhos, pacientes pagam um extra para receber um melhor tratamento de saúde, os cidadão dão presentes ou dinheiro a funcionários públicos para que seus processos andem mais rapidamente ou quando motoristas subornam policiais para não receber uma multa, a corrupção está presente. Todos os anos, mais de 1 trilhão de dólares é pago em subornos pelo do mundo, enriquecendo os corruptos e roubando as gerações do futuro. Cada ato de corrupção contribui no aumento da pobreza global, atrapalha o desenvolvimento e afugenta os investimentos.
A corrupção não pode ser medida apenas em termos econômicos. Onde a corrupção está presente, a sociedade em geral sofre. A corrupção debilita os sistemas judiciais e políticos, que deveriam trabalhar para o bem de todos, enfraquece a aplicação das leis e acaba por silenciar a voz do povo. Como resultado, a confiança dos cidadãos nos funcionários públicos e instituições nacionais se acaba aos poucos. Todos nós temos um papel a desempenhar para acabar com a corrupção: governos, o setor privado e a sociedade civil. A campanha anticorrupção conclama aos indivíduos uma participação contra as atividades criminais que podem causar efeitos devastadores em sua sociedade e nação. O material da campanha está disponível na página www.unodc.org.br.
“É preciso modificar o pensamento individualista que predomina na gestão pública e é enraizado desde cedo nas pessoas”, afirmou o promotor de justiça e professor universitário Roberto Livianu, da USP. Ele recomenda uma educação voltada para a cidadania, que faça as pessoas se perceberem como parte de um coletivo, como forma de combater a corrupção. O promotor pesquisou o assunto em sua tese de doutorado para a Faculdade de Direito desde as origens da cultura da corrupção no período colonial, onde as capitanias hereditárias e sesmarias eram usadas como instrumentos políticos e em benefício das pessoas pelo rei para administrá-las até os dias atuais.
A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou em dezembro passado a campanha mundial Corrupção: Você Pode Detê-la. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção entra em vigor no dia 14 de dezembro. Adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em outubro de 2003, a Convenção já foi adotada por 140 países e ratificada por 38. O Brasil é signatário da Convenção e ratificou o documento em junho do ano passado. O documento é o primeiro instrumento legal e global desenvolvido para ajudar as Nações-Membro a combater a corrupção nos setores público e privado.
"As riquezas dos países são saqueadas por líderes corruptos, enquanto que no mundo corporativo muitos acionistas são roubados por executivos corruptos. A Convenção demonstra que a comunidade internacional não tolera mais práticas corruptas novas e antigas, locais ou globais", afirma Antonio Maria Costa, diretor executivo do UNODC, entidade da ONU responsável pela implementação da Convenção em todo o mundo. "A Convenção proporciona as ferramentas legais que os países precisam para enfrentar a corrupção e transformar suas economias", acrescentou Costa.
Em 2005 a campanha anual anticorrupção do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes (UNODC), "Corrupção: Você pode detê-la", tem por intuito aumentar a conscientização do público em geral sobre as diferentes formas de corrupção e seu longo alcance. Assim cada indivíduo pode se envolver ativamente no combate a práticas tão desonestas. Ditados populares que definem o suborno e troca de favores como "Caixa 2", "o jeitinho brasileiro", "una mano lava l´altra" (em italiano "uma mão lava a outra"), "you scratch my back and I'll scratch yours" (em inglês "você coça minhas costas que eu coço a sua"), "coima" e "pot de vin" (suborno em Espanhol e Francês) confirmam o alcance global da corrupção.
Sempre quando os pais pagam taxas ilegais aos professores para dar mais atenção a seus filhos, pacientes pagam um extra para receber um melhor tratamento de saúde, os cidadão dão presentes ou dinheiro a funcionários públicos para que seus processos andem mais rapidamente ou quando motoristas subornam policiais para não receber uma multa, a corrupção está presente. Todos os anos, mais de 1 trilhão de dólares é pago em subornos pelo do mundo, enriquecendo os corruptos e roubando as gerações do futuro. Cada ato de corrupção contribui no aumento da pobreza global, atrapalha o desenvolvimento e afugenta os investimentos.
A corrupção não pode ser medida apenas em termos econômicos. Onde a corrupção está presente, a sociedade em geral sofre. A corrupção debilita os sistemas judiciais e políticos, que deveriam trabalhar para o bem de todos, enfraquece a aplicação das leis e acaba por silenciar a voz do povo. Como resultado, a confiança dos cidadãos nos funcionários públicos e instituições nacionais se acaba aos poucos. Todos nós temos um papel a desempenhar para acabar com a corrupção: governos, o setor privado e a sociedade civil. A campanha anticorrupção conclama aos indivíduos uma participação contra as atividades criminais que podem causar efeitos devastadores em sua sociedade e nação. O material da campanha está disponível na página www.unodc.org.br.
02 junho 2006
Música e Poesia
Rosebud (Lenine / Lula Queiroga)
Dolores, dólares...
O verbo saiu com os amigos
pra bater um papo na esquina,
A verba pagava as despesas,
porque ela era tudo o que ele tinha.
O verbo não soube explicar depois,
porque foi que a verba sumiu.
Nos braços de outras palavras
o verbo afagou sua mágoa, e dormiu.
O verbo gastou saliva,
de tanto falar pro nada.
A verba era fria e calada,
mas ele sabia, lhe dava valor.
O verbo tentou se matar em silêncio,
e depois quando a verba chegou,
era tarde demais
o cadáver jazia,
a verba caiu aos seus pés a chorar
lágrimas de hipocrisia.
dolores e dólares...
que dolor que me da los dólares
dólares, dólares
que dolor, que dolor que me dá
Mãos dadas, de Carlos Drummond de Andrade
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considere a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história.
Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela.
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida.
Não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,
a vida presente.
Dolores, dólares...
O verbo saiu com os amigos
pra bater um papo na esquina,
A verba pagava as despesas,
porque ela era tudo o que ele tinha.
O verbo não soube explicar depois,
porque foi que a verba sumiu.
Nos braços de outras palavras
o verbo afagou sua mágoa, e dormiu.
O verbo gastou saliva,
de tanto falar pro nada.
A verba era fria e calada,
mas ele sabia, lhe dava valor.
O verbo tentou se matar em silêncio,
e depois quando a verba chegou,
era tarde demais
o cadáver jazia,
a verba caiu aos seus pés a chorar
lágrimas de hipocrisia.
dolores e dólares...
que dolor que me da los dólares
dólares, dólares
que dolor, que dolor que me dá
Mãos dadas, de Carlos Drummond de Andrade
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considere a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história.
Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela.
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida.
Não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,
a vida presente.
01 junho 2006
Amélia Rodrigues
Poetisa, romancista, contista e teatróloga. Amélia Rodrigues foi uma das mais completas literatas baianas, aliando essas atividades à de educadora. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues nasceu em Oliveira dos Campinhos, município de Santo Amaro, a 26 de maio de 1861. Fez estudos primários com o Cônego Alexandrino do Prado. Estudaria mais tarde com outros mestres do seu tempo e faria concurso para o magistério, a que se dedicou durante toda a vida. Desde jovem, vinha conseguindo publicar e levar à cena suas peças de teatro. Ela estreou com o poemeto Filenila, em 1880, segue Bem-me-queres, Flores da Bíblia (1923) e Catecismos em Cânticos (1925). Inicia colaboração em jornais e revista da época. Por muito tempo colaborou em periódicos empresariais, na grande imprensa, alternando tal colaboração com a da imprensa religiosa. Nos últimos 15 anos de sua vida, porém, restringiu seu campo de atuação a esta última. Em 1888 escreveu o romance O Mameluco, publicando-o em folhetim no jornal Eco Santamarense. Também por esse tempo escreveu o drama, em quatro atos, Fausto, que é representado em Santo Amaro. É de sua autoria os romances A Promessa (1895), Mestra e Mãe (1898) e Um Casamento à Moderna (1924).
Transfere-se, em 1891, para Salvador, prosseguindo na missão de ensinar. Em 1891 escreve o poema Jesus em Belém. Em 1898 edita os versos Bem-me-quer, fazendo sucesso entre os intelectuais. A partir da entrada na imprensa religiosa, a atuação da escritora, lado a lado com a sua projeção profissional, é enorme e cumulativa. Escreve versos, tem colunas e colaboração intensa nos periódicos religiosos. Mais ou menos após dez anos de artigos, funda três revistas: A Paladina (1910) e A Voz (1912) na Bahia e, no Rio, Luz de Maria. Suas peças voltaram a ser editadas. No entanto, seus temas foram-se afunilando em torno da religião. A militância da autora insere-se entre o momento da luta pela igualdade de direitos ( que se reduz, a uma melhoria na educação da mulher) e seu refluxo na primeira década do século XX e, na outra ponta, o recrudescimento da campanha pelo voto feminino nos anos 20/30. Em 1919 fixa-se no Rio de Janeiro, onde funda a revista Luz de Maria, publicando contos, artigos e poesias. Em 1926 retornara a Bahia.
São três etapas do processo de construção do pensamento feminista de Amélia Rodrigues: a primeira, que se inicia com poemas e culmina com a publicação do livro Mestra e Mãe (1898); a segunda, quando reforça a militância da mulher católica para uma ação fora do âmbito familiar, participando da atividade social no amparo das crianças desamparadas, assim como uma interferência na sociedade, exigindo da imprensa, do cinema, um respeito aos princípios éticos e morais deliberadamente cristãos. Esta etapa pode ser constatada através dos seus artigos nas revistas de Salvador e Rio. A última etapa, quando a autora, já no RJ, entra em contato com o debate amplo das idéias, com os primeiros ganhos da mulher na área profissional e na luta pelo direito ao voto. Ao longo de sua produção literária ela usava os seguintes pseudônimos: Cidade do Salvador ( pseudônimos Zé d’Aleluia - seção Musa Alegre, Musa Alegre e Borboleta - seção Entre rosas); Estandarte católico (Marphisa - Aljôfares), O Mensageiro da Fé (Juca Fidelis - Cena e Palestras), e Dinorah (em Cartas a Arthemia).
Amélia Rodrigues publicou ainda a biografia de Madre Vitória da Encarnação, intitulada Uma Flor do Desterro. Em 1901 editou pela Tipografia Salesiana O Ódio Sem Fim, a propósito da perseguição religiosa; Verdadeira Missão Social da Mulher (discurso inaugural da Associação das Damas de Maria Auxiliadora, em 04/08/1907), O Feminismo e o Lar (conferência pronunciada em 27/10/1921 na Associação dos Empregados do Comércio da Bahia) e Ação Social Feminina (1923). É ainda de sua autoria as peças teatrais A Natividade (drama sacro - 1889), Marieta das Flores. O Bilhete de Loteria. Poesias (1901), O Charlatão (1901), A Madrasta (drama em um ato, 1917), Borboleta e Abelha (drama, 1921), No Campo da Imprensa (farsa, 1916), Antes do Leilão das Flores (1921), Almas Sertanejas (drama nordestino em três atos, 1923), Progresso Feminino (comédia, 1924), entre outras. Das peças infantis escreveu: Hoje, Amanhã, Santos Amores; O Meu Dever: Se Dependesse de Mim; As Duas Colegiais; Pedindo Desculpas no Começo de uma Festa de Férias; O Anjo dos Pobres; O Pintor Malogrado; O Meu Presente, etc. Entre as traduções que fez estão O Presépio de São Francisco de Assis (de Frei Mateus Achneiderwerth), O Bufarinheiro (de Y D’Isné, 1902), A Porteira Celeste (lenda da antiga Viena, tradução do alemão pela autora) e Responso de Santo Antônio (versão de Amélia Rodrigues do orbe seráfico).
A trajetória intelectual de Amélia Rodrigues abrange mais ou menos 50 anos de mudanças marcantes dentro do contexto brasileiro e da Bahia. Ela viveu a monarquia, viu a abolição dos escravos, a primeira república, a primeira guerra mundial, a revolução russa, a separação da religião do poder político. Vivenciou a crescente laicização da sociedade, o crescimento dos movimentos socialistas, a luta da Igreja para permanecer no poder, a transformação da imprensa em empresa, a ampliação do conhecimento através da ciência. Dentro dessas mudanças, que imprimiam uma modificação contínua de atitudes, leu muito e informou-se sobre o movimento de emancipação da mulher. Além de publicar mais de uma dezena de livros, foi capaz de destacar-se nos meios culturais e de ocupar um razoável espaço na imprensa. Vale inserir seu nome no rol de mulheres escritoras que tiveram influência marcante em seus meios mas que, devido ao tempo e aos preconceitos literários, não têm um lugar na literatura, permanecendo uma espécie de limbo literário. No dia 22 de agosto de 1926 veio a falecer. Para não ficar esquecida, uma das ruas do bairro da Graça, em Salvador, foi denominada de Amélia Rodrigues. Desmembrando de Santo Amaro, sob a Lei Estadual 1533, no dia 20 de outubro de 1961 foi criado o município de Amélia Rodrigues, que fica localizado na região do Paraguaçu.
Transfere-se, em 1891, para Salvador, prosseguindo na missão de ensinar. Em 1891 escreve o poema Jesus em Belém. Em 1898 edita os versos Bem-me-quer, fazendo sucesso entre os intelectuais. A partir da entrada na imprensa religiosa, a atuação da escritora, lado a lado com a sua projeção profissional, é enorme e cumulativa. Escreve versos, tem colunas e colaboração intensa nos periódicos religiosos. Mais ou menos após dez anos de artigos, funda três revistas: A Paladina (1910) e A Voz (1912) na Bahia e, no Rio, Luz de Maria. Suas peças voltaram a ser editadas. No entanto, seus temas foram-se afunilando em torno da religião. A militância da autora insere-se entre o momento da luta pela igualdade de direitos ( que se reduz, a uma melhoria na educação da mulher) e seu refluxo na primeira década do século XX e, na outra ponta, o recrudescimento da campanha pelo voto feminino nos anos 20/30. Em 1919 fixa-se no Rio de Janeiro, onde funda a revista Luz de Maria, publicando contos, artigos e poesias. Em 1926 retornara a Bahia.
São três etapas do processo de construção do pensamento feminista de Amélia Rodrigues: a primeira, que se inicia com poemas e culmina com a publicação do livro Mestra e Mãe (1898); a segunda, quando reforça a militância da mulher católica para uma ação fora do âmbito familiar, participando da atividade social no amparo das crianças desamparadas, assim como uma interferência na sociedade, exigindo da imprensa, do cinema, um respeito aos princípios éticos e morais deliberadamente cristãos. Esta etapa pode ser constatada através dos seus artigos nas revistas de Salvador e Rio. A última etapa, quando a autora, já no RJ, entra em contato com o debate amplo das idéias, com os primeiros ganhos da mulher na área profissional e na luta pelo direito ao voto. Ao longo de sua produção literária ela usava os seguintes pseudônimos: Cidade do Salvador ( pseudônimos Zé d’Aleluia - seção Musa Alegre, Musa Alegre e Borboleta - seção Entre rosas); Estandarte católico (Marphisa - Aljôfares), O Mensageiro da Fé (Juca Fidelis - Cena e Palestras), e Dinorah (em Cartas a Arthemia).
Amélia Rodrigues publicou ainda a biografia de Madre Vitória da Encarnação, intitulada Uma Flor do Desterro. Em 1901 editou pela Tipografia Salesiana O Ódio Sem Fim, a propósito da perseguição religiosa; Verdadeira Missão Social da Mulher (discurso inaugural da Associação das Damas de Maria Auxiliadora, em 04/08/1907), O Feminismo e o Lar (conferência pronunciada em 27/10/1921 na Associação dos Empregados do Comércio da Bahia) e Ação Social Feminina (1923). É ainda de sua autoria as peças teatrais A Natividade (drama sacro - 1889), Marieta das Flores. O Bilhete de Loteria. Poesias (1901), O Charlatão (1901), A Madrasta (drama em um ato, 1917), Borboleta e Abelha (drama, 1921), No Campo da Imprensa (farsa, 1916), Antes do Leilão das Flores (1921), Almas Sertanejas (drama nordestino em três atos, 1923), Progresso Feminino (comédia, 1924), entre outras. Das peças infantis escreveu: Hoje, Amanhã, Santos Amores; O Meu Dever: Se Dependesse de Mim; As Duas Colegiais; Pedindo Desculpas no Começo de uma Festa de Férias; O Anjo dos Pobres; O Pintor Malogrado; O Meu Presente, etc. Entre as traduções que fez estão O Presépio de São Francisco de Assis (de Frei Mateus Achneiderwerth), O Bufarinheiro (de Y D’Isné, 1902), A Porteira Celeste (lenda da antiga Viena, tradução do alemão pela autora) e Responso de Santo Antônio (versão de Amélia Rodrigues do orbe seráfico).
A trajetória intelectual de Amélia Rodrigues abrange mais ou menos 50 anos de mudanças marcantes dentro do contexto brasileiro e da Bahia. Ela viveu a monarquia, viu a abolição dos escravos, a primeira república, a primeira guerra mundial, a revolução russa, a separação da religião do poder político. Vivenciou a crescente laicização da sociedade, o crescimento dos movimentos socialistas, a luta da Igreja para permanecer no poder, a transformação da imprensa em empresa, a ampliação do conhecimento através da ciência. Dentro dessas mudanças, que imprimiam uma modificação contínua de atitudes, leu muito e informou-se sobre o movimento de emancipação da mulher. Além de publicar mais de uma dezena de livros, foi capaz de destacar-se nos meios culturais e de ocupar um razoável espaço na imprensa. Vale inserir seu nome no rol de mulheres escritoras que tiveram influência marcante em seus meios mas que, devido ao tempo e aos preconceitos literários, não têm um lugar na literatura, permanecendo uma espécie de limbo literário. No dia 22 de agosto de 1926 veio a falecer. Para não ficar esquecida, uma das ruas do bairro da Graça, em Salvador, foi denominada de Amélia Rodrigues. Desmembrando de Santo Amaro, sob a Lei Estadual 1533, no dia 20 de outubro de 1961 foi criado o município de Amélia Rodrigues, que fica localizado na região do Paraguaçu.
Assinar:
Postagens (Atom)
